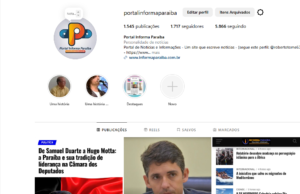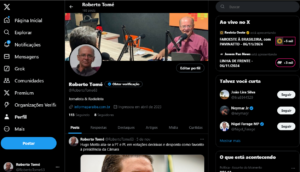Educação & Cultura
Afinal, a Independência do Brasil foi revolucionária ou conservadora?

Quando se declarou independente de Portugal, há 200 anos, o Brasil optou por preservar características que vinham do período colonial: a forma monárquica de governo, a dinastia de Bragança no poder, a unidade territorial, a economia agrária de exportação e a escravidão de origem africana.
Isso quer dizer que a máxima “se quisermos que as coisas continuem como estão, elas terão que mudar”, do escritor italiano Giuseppe di Lampedusa, poderia ser um bom resumo da Independência do país? Não exatamente.
De acordo com historiadores, seria simplista descrever a emancipação brasileira como exclusivamente conservadora. O processo foi complexo. Muitos aspectos do Brasil, de fato, se conservaram. Outros tantos, contudo, mudaram de forma revolucionária.
Dom Pedro I, tido como libertador conservador, e Simón Bolívar, revolucionário da América espanhola (imagens: pinturas de Henrique José da Silva e José Gil de Castro)
No aspecto político, a revolução saltou aos olhos. Em 7 de setembro de 1822, um país novo surgiu e um sentimento de brasilidade até então inexistente começou a se formar.
Antes da Independência, as capitanias mantinham pouca ou até nenhuma conexão entre si. O Pará, por exemplo, se relacionava mais com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. Além disso, a população não se enxergava como brasileira, mas como portuguesa da América ou, no máximo, fluminense, paulista, pernambucana, “bahiense” etc.
Por essa razão, o que os revolucionários da Inconfidência Mineira planejaram em 1789 foi que apenas a capitania de Minas Gerais se tornasse independente, e não a América portuguesa toda. A integração nacional teve que ser construída a partir de 1822, ainda que aos poucos, para que o Brasil independente vingasse. Não foi algo natural.
Outro aspecto de ruptura residiu nos poderes do monarca. Apesar de D. Pedro I ser filho do rei lusitano, não se pode dizer que houve continuidade, já que a Monarquia implantada no Brasil foi bem diferente da que vigorava em Portugal. D. João VI, como representante do velho absolutismo, mandava e desmandava a seu bel-prazer. D. Pedro I, não.
O historiador Antonio Barbosa, professor da Universidade de Brasília (UnB) e consultor legislativo do Senado, explica:
— D. Pedro I chegou ao poder no pós-Revolução Francesa, na onda do liberalismo político, da qual nem seu pai, já em Lisboa, escaparia. O Brasil nasceu como uma Monarquia constitucional representativa, e não absolutista. O imperador precisou submeter-se a uma Constituição e repartir o poder com um Parlamento eleito por cidadãos. Isso não foi algo trivial e, com adaptações, se mantém no Brasil até hoje. Na época, foi uma novidade tão grande que motivou crises durante todo o Primeiro Reinado e levou à abdicação de D. Pedro, em 1831.
Escravizados lavam ouro no Brasil e cultivam batatas no sul dos Estados Unidos (fotos: Marc Ferrez e Biblioteca do Congresso dos EUA)
Também foi inovador o caráter dado aos cidadãos brasileiros pela primeira Constituição, outorgada por D. Pedro I em 1824. Nos tempos do absolutismo, a lei fazia distinção entre ricos e pobres, nobres e plebeus.
As Ordenações Filipinas, código legal que se aplicava a Portugal e seus territórios ultramarinos, autorizavam o marido a matar tanto sua mulher traidora e quanto o amante dela. Havia uma única exceção: sendo o marido traído um “peão” e o amante de sua esposa um homem “de maior qualidade”, o assassino poderia ser condenado a três anos de desterro na África.
Isso mudou. Graças ao liberalismo da Constituição de 1824, todos os cidadãos se tornaram — ao menos no papel — iguais perante a lei. No passado colonial, até os descendentes do criminoso poderiam também ser castigados. No Brasil imperial, as punições passaram a ser exclusivamente individuais.
A historiadora Neuma Brilhante, professora da UnB e autora de um capítulo do livro recém-lançado Várias Faces da Independência (Editora Contexto), lembra que a igualdade legal abrangia até mesmo as pessoas negras:
— É certo que o Brasil surgiu como um país escravista, mas não houve leis que segregassem uma parte da população especificamente por causa da cor da pele. Isso pode ser considerado uma novidade. Não há como negar, claro, que havia racismo na vida prática. Legalmente falando, porém, todos eram iguais. No Brasil, as leis não podiam ser usadas para impedir que pessoas não brancas estudassem, ocupassem empregos públicos ou frequentassem determinados lugares. Não foi assim nos Estados Unidos. Nos países da América espanhola, as leis mantiveram os indígenas em posição social subalterna.
A primeira Constituição do Brasil, ao mesmo tempo, teve aspectos conservadores em relação à cidadania. Só tinha direito a voto quem contasse com renda anual de pelo menos 100 mil réis ou, a depender da votação, 200 mil réis. Para ser eleito deputado, o mínimo eram 400 mil réis. Para senador vitalício, 800 mil réis. Os homens que não tinham renda suficiente, assim como todas as mulheres, se encaixavam na sociedade como cidadãos de segunda categoria. Os escravizados simplesmente não eram cidadãos.
— Por mais abrangente que seja, nenhuma revolução se faz totalmente de transformações. Sempre existem aspectos de conservação — afirma o historiador João Paulo Pimenta, professor da Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro Independência do Brasil (Editora Contexto).
A manutenção dos trabalhadores escravizados, naturalmente, foi um dos aspectos conservadores do Brasil autônomo. Mesmo assim, ressalva o historiador, a escravidão pós-Independência não foi exatamente igual à escravidão pré-Independência.
Antes de 1822, ela esteve ligada ao mercantilismo e teve menor escala, utilizada principalmente na mineração do ouro e na plantação da cana-de-açúcar e do algodão. Depois, integrou-se ao nascente capitalismo industrial, com o Brasil posicionado no mundo como exportador de café, e exigiu mão de obra muito mais numerosa.
Após a Revolução Industrial, o café deixou de ser item de luxo e se transformou em produto popular do mercado capitalista, além de ter servido de estimulante para que os operários das novas indústrias americanas e europeias suportassem as jornadas de trabalho extenuantes.
Antes de 1822, quase não se questionava no Brasil a existência do trabalho cativo. Depois da Independência, os questionamentos surgiram dentro e fora do país, e o poder político nacional precisou agir para neutralizar os defensores da abolição e garantir a sobrevida da escravidão.
— A Independência foi um projeto fortemente centrado na continuidade da escravidão. Para quem viveu aquele momento, tratou-se de manutenção. Para nós, que hoje podemos enxergar todo o processo histórico, tratou-se de renovação, transformação. Com a Independência, instalou-se no Brasil um novo tipo de escravidão — analisa Pimenta, da USP, acrescentando que essa exploração ligada ao mercado capitalista é conhecida no meio acadêmico como “segunda escravidão”.

Os velhos livros didáticos de história costumavam descrever a Independência do Brasil como um processo único, uma verdadeira jabuticaba, quase uma aberração. Os autores, para comprovar a tese, comparavam a América portuguesa com a América espanhola, que, ao tornar-se independente, mergulhou em guerras civis, aboliu o trabalho servil, pulverizou-se em diversos países e adotou o modelo republicano.
Hoje se sabe que a Independência do Brasil envolveu, sim, confrontos armados. O jornalista Leonencio Nossa, autor do livro As Guerras da Independência do Brasil (Editora Topbooks), afirma:
— Houve violência e correu muito sangue. Travaram-se batalhas entre brasileiros e portugueses na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no Grão-Pará. A situação só se acalmou em 1826. Mesmo assim, grupos políticos e sociais descontentes com o Brasil surgido na Independência continuaram se rebelando e pegando em armas até 1853.
Ele lembra que a Batalha do Jenipapo, no sertão do Piauí, em 1823, envolveu quase 4 mil soldados dos dois lados e deixou pelo menos 200 mortos. No mesmo ano, nas proximidades de Belém, cerca de 200 apoiadores de Portugal que estavam detidos no porão de um navio de guerra foram sumariamente executados, asfixiados por nuvens de cal viva. O episódio fico conhecido como tragédia do Brigue Palhaço.
O próprio D. Pedro I atribuiu a morte de um de seus filhos, ainda bebê, à violência da época da Independência. Perseguido por tropas portuguesas, que queriam levá-lo à força para Portugal, fugiu com a família do Paço de São Cristóvão para a Fazenda de Santa Cruz. O príncipe João Carlos já tinha a saúde debilitada e piorou na fuga. Ele não suportou o calor do verão do Rio de Janeiro e morreu em fevereiro de 1822, semanas antes de completar um ano de vida. Se não tivesse morrido, teria sido o segundo imperador brasileiro.
Os países vizinhos do Brasil aboliram a servidão indígena e a escravidão africana não por humanidade, mas, entre outras razões, para atrair o máximo possível de soldados para os exércitos formados em suas guerras de independência. E nenhum desses países dependia economicamente tanto dos escravizados negros quanto o Brasil.
Os Estados Unidos continuaram sendo escravistas quando se separaram da Grã-Bretanha, em 1776. Mesmo com esse aspecto conservador, os historiadores não deixam de chamar a independência das 13 colônias de Revolução Americana. A própria Revolução Francesa, de 1789, uma das mais notáveis rupturas da história da humanidade, não aboliu o trabalho escravo nas colônias pertencentes à França.
Quanto à manutenção na Monarquia no Brasil, deve-se considerar que decisivo para isso foi a longa permanência do rei D. João VI no Rio de Janeiro. Rei europeu nenhum havia vivido em território colonial. Aliás, rei nenhum havia sequer posto os pés em qualquer território fora da Europa.
De qualquer forma, a Coroa não foi uma exclusividade do Brasil. O Haiti e o México tiveram imperadores quando se libertaram respectivamente do jugo francês e espanhol.
As elites do território brasileiro assistiram com atenção aos movimentos independentistas da América espanhola e, com o objetivo de impedir semelhante pulverização territorial, souberam identificar quais comportamentos deveriam ser copiados e quais deveriam ser evitados.

A historiadora Cecilia Helena de Salles Oliveira, professora do Museu do Ipiranga, da USP, e autora do livro Ideias em Confronto: embates pelo poder na Independência do Brasil (Editora Todavia), resume:
— Mais ou menos no mesmo período, ocorreram a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a independência da América espanhola. Cada episódio teve suas particularidades, mas todos eles fizeram parte de um mesmo movimento maior que sacudiu uma parte grande do mundo. A Independência do Brasil esteve nessa onda e se ligou a esses acontecimentos. Não foi algo isolado.
Ela lembra que a cidadania, por ser um conceito ainda em construção, não era ampla em parte nenhuma do mundo. A exigência de uma renda mínima de 100 mil ou 200 mil réis anuais para ser eleitor no Brasil, portanto, não chegava a ser uma excrescência. Salles Oliveira compara:
— Os Estados Unidos adotaram um sistema semelhante depois que se tornaram independentes. O principal requisito para que um homem americano pudesse votar foi ser pagador de impostos. Se pagava impostos, é porque tinha renda e patrimônio.
De acordo com a historiadora Neuma Brilhante, da UnB, os projetos políticos do presente estão sempre disputando o passado, buscando impor-lhe significados distintos. Ela explica que a visão depreciativa do grito do Ipiranga como algo puramente conservador, por exemplo, partiu dos republicanos no fim reinado de D. Pedro II:
— Os republicanos tiveram sucesso ao marcar a Monarquia como espaço atrasado e retrógrado. Convenceram que a melhor opção seria a República, que, na imagem construída por eles, se apresentaria como o espaço da modernidade e do progresso. Tiveram tanto sucesso nessa construção que a imagem negativa da Monarquia marca profundamente o Brasil contemporâneo.
A historiadora afirma que a disputa política em torno dos significados da Independência continuou depois da derrubada da Monarquia e apareceu em diversas ocasiões, com interpretações simplistas:
— Não é de forma inocente que se centra a Independência na figura de D. Pedro I. Quando se afirma que ela só foi possível graças à vontade e à força de um único homem, um herói, silenciam-se todos os atores sociais que participaram. No máximo, citam-se aquelas personalidades que estiveram por trás do herói, dando-lhe suporte, como Leopoldina e José Bonifácio. Não sobra espaço para gente comum, minorias, oposição, resistência, projetos alternativos. É como se o povo não fosse agente da história. Esse tipo de interpretação casa com perspectivas autoritárias de governo. Foi o que a ditadura militar fez no 150º aniversário da Independência, em 1972, quando trouxe de Portugal os ossos de D. Pedro I. O passado é usado como instrumento de legitimação do presente e de projetos políticos para o futuro.
Fonte: Agência Senado