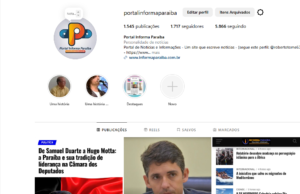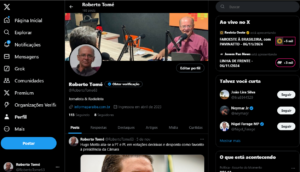Educação & Cultura
As oportunidades perdidas da Educação no Brasil

O Brasil chega ao bicentenário da independência com vários problemas sociais negligenciados ao longo da nossa história. A educação é um deles. Embora o país tenha obtido avanços inegáveis na área desde a época colonial, nossos índices educacionais sempre foram inferiores aos de países vizinhos e refletem nossa desigualdade social – atribuída, em grande parte, aos 350 anos de escravidão, cujos efeitos persistem até hoje.
Desde o século 16, com a chegada dos portugueses, os avanços foram lentos e marcados pela demora em implementar um sistema de ensino que beneficiasse toda a população e pela persistente falta de investimentos públicos na área. Um modelo nacional e estruturado de política educacional só foi estabelecido nos anos 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases, e os primeiros resultados efetivos em termos de inclusão escolar surgiram há duas décadas, mas com sua continuidade ameaçada.
Hoje, cerca de 6,6% da população brasileira não sabe ler nem escrever, um índice insignificante se comparado à taxa de analfabetismo de 99% entre os brasileiros em 1808 – ano em que a família real chegou ao país. Mas o drama continua se for levado em conta que 29% da população brasileira, em plena era digital, é considerada analfabeta funcional, ou seja, incapaz de compreender e interpretar textos e ideias e fazer operações matemáticas, apesar de ter aprendido a ler e escrever.
De acordo com especialistas, 200 anos depois, o grande desafio é manter nossas crianças e jovens na escola e melhorar a qualidade de ensino, com maior capacitação de professores. “Apenas no início dos anos 2000 conseguimos atingir o índice fantástico de 98% das crianças matriculadas no ensino fundamental”, afirma a pedagoga Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, professora da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp e da Faculdade de Direito do Sul de Minas. “Mas, hoje, menos de 60% dos alunos em idade escolar frequentam o ensino médio, o que é muito pouco”, acrescenta.
Basta acompanhar a trajetória da educação no país para constatar as inúmeras oportunidades perdidas ao longo da nossa história. O período colonial é um exemplo. Portugal não tinha interesse em educar os nascidos na colônia — tanto que proibia a importação e venda de livros. Assim, a educação por aqui começou por meio dos jesuítas da Companhia de Jesus. A prioridade dos missionários jesuítas era difundir a crença cristã entre os indígenas. Os escravos vindos da África não tinham direito à educação e os homens brancos (as mulheres estavam excluídas) estudavam nos colégios religiosos ou iam para a Europa.
Com a vinda da família real, em 1808, houve algum alento. O rei D. João VI criou as Escolas de Medicina (implementadas pelo médico pernambucano Correia Picanço na Bahia e no Rio de Janeiro) e as academias militares (Academia Real da Marinha em 1808 e Academia Real Militar em 1810).
Exclusão no Império
Com a independência, em 1822, o novo governo imperial esboçou um conjunto de medidas no campo educacional. A Constituição de 1824 determinou que o ensino primário seria gratuito para todos os cidadãos. “O problema é a palavra ‘cidadãos’, que excluía a maior parte da população”, diz Ana Elisa. “Eram considerados cidadãos, por exemplo, apenas os filhos de pais brasileiros e, entre os filhos ilegítimos, só os de mães brasileiras nascidos no estrangeiro, entre outras classificações”, acrescenta.
A primeira lei especificamente educacional data de 1827. Organizava de maneira generalista o ensino em três níveis: primário, secundário e superior. O primário era somente para ensinar ler e escrever, o secundário se baseava nas aulas régias (introduzidas na parte final da era colonial) e o ensino superior era voltado para as elites.
No ensino primário, por exemplo, meninos e meninas foram separados e tiveram currículos diferentes. Em matemática, as garotas tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria, a elas só era ensinado as quatro operações básicas. O conteúdo era o mesmo apenas nas aulas de português e religião.
“A lei de 1827 deixava às províncias decidir se poderiam ter escola para meninas, cujo ensino era direcionado para as que iam se casar, com aulas de prendas domésticas, como corte, costura e bordado”, afirma a pedagoga Ana Elisa. “Nesse período, as mulheres não tinham liberdade de movimento, as famílias achavam que a educação deveria ser dada dentro de casa”, emenda. A unificação dos conteúdos de garotos e garotas ocorreria três décadas mais tarde, em 1854.
No início do império não havia sequer um espaço público que reproduzisse o conceito atual de escola. O professor, sem formação específica, dava aulas na própria residência ou num imóvel alugado. Não havia idade mínima para começar os estudos – a família definia quando os filhos ou filhas passariam a ter aulas, no intervalo entre os 5 e 12 anos de idade. Os alunos de todas as idades estudavam juntos e o professor os dividia pelo nível de conhecimento. O curso durava, em média, quatro anos. Para receber o certificado, os alunos se submetiam a um exame aplicado por uma banca de inspetores do governo.
Por meio do Ato Adicional de 1834, o governo imperial consumou a descentralização da educação no país. Às províncias ficou a incumbência de organizarem seus respectivos “sistemas” de ensino primário e secundário. “A medida foi inócua, pois como as províncias mais distantes não tinham verba, a educação formal ficou à mercê de grandes famílias, que insistiam com os tutores que davam aulas dentro de casa, sem controle do Estado”, afirma Ana Elisa.
Em 1837, numa tentativa de adotar um padrão de ensino de qualidade, foi criado o Colégio de Pedro II e os primeiros liceus provinciais – todos frequentados exclusivamente pela elite. O índice de analfabetismo no país nessa época passava de 60%. O Colégio Pedro II era o único autorizado a realizar exames para a obtenção do grau de bacharel, indispensável para o acesso a cursos superiores.
De acordo com a especialista da Unicamp, a educação ao longo do período imperial pagou o preço pela dificuldade do país recém-independente em organizar as instituições de Estado. “A educação ficava sob o guarda-chuva da pasta da Justiça, o que prejudicou a tentativa de criar um sistema nacional de ensino planejado”, afirma.
Na segunda metade do século 19, a demanda por formação secundária, para o acesso à educação superior, determinou a concentração das iniciativas nesse nível educacional em instituições privadas – muitas delas protestantes, trazidas por imigrantes norte-americanos fugidos da guerra civil dos Estados Unidos.
Reformas sem resultado
A queda da monarquia e a chegada da república não ajudaram a mudar o quadro. Durante a Primeira República (1889-1930) foram anunciadas cinco reformas de âmbito nacional do ensino secundário, preocupadas em implantar um currículo unificado para todo o país — Reforma Benjamim Constant, Reforma Epitácio Pessoa, Reforma Rivadávia, Reforma Carlos Maximiliano e Reforma João Luiz Alves).
“Os problemas começaram com a Constituição de 1891, que não fazia referência sobre as séries iniciais, apenas sobre educação superior”, diz Ana Elisa. De fato, a primeira universidade brasileira foi criada em 1912 – mas, na época da Independência, havia 22 universidades na América espanhola.
Segundo Ana Elisa, as diferentes reformas da Primeira República limitavam-se a alterar o que a anterior havia definido, na tentativa de formular um sistema educacional organizado, o que obviamente não ocorreu.
“A Reforma João Luiz Alves, de 1925, por exemplo, até esboçou a organização de um sistema de ensino, instituindo a frequência obrigatória”, afirma a docente da Unicamp. Numa mostra como a educação nacional avançava a passos lentos, a Constituição de 1934 incorporou alguns pontos da Reforma Luiz Alves, anunciada nove anos antes.
O modelo mais consagrado surgiria apenas em 1961, por meio da Lei 4.024, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação. “Foi a primeira grande proposta de configuração de um sistema nacional de ensino”, afirma Ana Elisa. Segundo ela, a nova lei adotou uma metodologia de pensar, valorizando o conhecimento pedagógico. “A sala de aula que emergiu dessa lei de 1961 é igual à de hoje, com estruturação seriada (primário, ginásio e colegial), ou seja, a nomenclatura dos ciclos mudou, assim como o conteúdo, mas não a organização”, acrescenta.
O golpe militar de 1964 também acabaria impactando na educação. Os militares fizeram um esforço de trazer para o sistema de ensino o mesmo fechamento do regime que foi consolidado com a Emenda Constitucional de 1969. Em 1971, por meio da Lei 5692/71, foi instituída uma reforma educacional voltada para direcionar o segundo grau para o ensino profissionalizante, visando fortalecer o ensino superior.
“A lei tornou mais restritas as liberdades pedagógicas, trouxe a criação da disciplina de Educação Moral e Cívica e serviu como um coroamento da ditadura militar na educação”, diz a especialista.
“Houve o direcionamento para o controle, mas tinha uma preocupação em formar profissionais, e o resultado disso foi a expansão da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), iniciativa que estimulou a pesquisa científica e acabou copiada por outros países vizinhos”, afirma. A CAPES concede, por meio de seus programas institucionais, bolsas de mestrado e de doutorado diretamente às instituições nacionais.
Bonança nos anos 2000
O período mais produtivo da educação nacional, de acordo com Ana Elisa, ocorreu a partir de 1996, com a aprovação da Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. A educação se transformou: a universalização do ensino foi praticamente garantida, os investimentos aumentaram e a formação docente evoluiu. O orçamento do Ministério da Educação (MEC) praticamente dobrou.
A lei, formulada sob o efeito da Constituição de 1988 – que determinou que 25% do orçamento de estados e municípios sejam direcionados para a educação –, ampliou o ano letivo de 180 para 200 dias e instituiu a obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental (que compreende a fase atual do 1º ao 9º ano e atende crianças dos seis aos 14 anos de idade). Uma emenda aprovada em 2009 ampliou a obrigatoriedade e gratuidade do ensino básico (que compreende o ensino infantil, ensino fundamental e o ensino médio) para crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade.
Outro avanço, em paralelo, foi a implementação do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que introduziu a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao Ensino Fundamental. Abastecido por uma porcentagem de diversos impostos e direcionado a cada escola sem intermediação política, o Fundo determinava um valor mínimo a ser investido por aluno – quando estado e municípios não conseguiam alcançar o índice, a União complementava e garantia o necessário.
“A partir dos anos 2000, com o Fundef — que colocou um dinheiro importante na educação — e a adoção de políticas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, conseguimos assegurar 98% das crianças matriculadas no ensino fundamental obrigatório”, afirma a pedagoga.
O Fundef vigorou até 2006. No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), contemplando outras etapas de escolarização, como o Ensino Médio, a Educação Infantil e a de Jovens e Adultos.
“Embora o Fundeb tenha ampliado o recorte etário, de 4 a 17 anos, beneficiando estudantes do ensino médio, essa abertura não foi acompanhada por política intersetorial nem por investimento forte como o Fundef”, diz Ana Elisa. “O Fundeb triplicou o número de pessoas atendidas, mas sem ampliação da verba que era destinada pelo Fundef, o que provocou uma queda de investimento em educação”, acrescenta.
Essa queda leva ao desestímulo à carreira docente e à evasão escolar por parte dos estudantes. Hoje, 2,7 milhões de jovens brasileiros de 15 a 21 anos estão fora da escola.
Em 2020, a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que torna permanente o Fundeb, foi aprovada pelo Congresso Nacional. A emenda destina mais dinheiro da União ao Fundeb — esses recursos aumentarão gradativamente nos próximos anos para até 23% do total em 2026.
O novo Fundeb deve recolocar a educação brasileira num novo caminho. “Se tivéssemos ampliado essa universalização do ensino pensando em fortalecer as mesmas políticas que nos ajudaram a colocar 98% das crianças do ensino fundamental na escola, poderíamos estar num momento diferente”, afirma a professora da Unicamp.