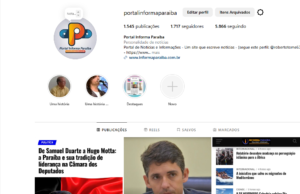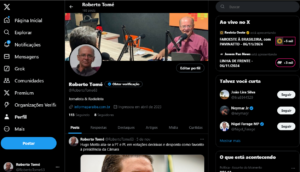Judiciário
O debate sobre dolo no Direito brasileiro
Abre-se espaço para a reflexão sobre os critérios de decisão a cargo do Judiciário

É inegável que o direito brasileiro experimenta um efervescente debate no que tange à fronteira entre dolo e culpa. Após muitas décadas de trabalhos que aparentemente tratavam o tema como algo incontroverso à luz do direito positivo brasileiro – talvez alavancados pelas incisivas palavras de Hungria no sentido de que a “chamada teoria da representação” estaria “inteiramente desacreditada”[1] –, o debate ganha novo fôlego a partir da primeira década deste século em razão, creio eu, de três obras a favor de uma teoria cognitiva do dolo: a tradução das notas ao §15 do Código Penal Alemão do Nomos Kommentar, de Puppe[2] e os artigos de Greco[3] e Souza Santos[4].
Seguindo a tendência de questionamento ao tradicional tratamento que a dogmática brasileira deu para o dolo ao longo do século passado, outros trabalhos surgiram na segunda década deste século, dentre os quais destaco: um segundo artigo de Souza Santos[5], bem como as monografias de Viana[6], Xavier Gomes[7] e Marteleto Filho[8]. A essa defesa teórica de teses cognitivas, creio que o principal trabalho de oposição seja o de Tavares[9]. Essa controvérsia, inclusive, parece ter chegado ao Poder Judiciário, como exemplifica o julgamento do afamado Caso da Boate Kiss, que dispensa citações ou apresentações por ser de conhecimento geral[10].
É neste contexto que Rocha de Rezende[11] publica breve ensaio criticando a concepção geral segundo a qual o elemento volitivo do dolo, em sua acepção fático-descritiva, é dispensável. Em defesa de uma visão volitiva, o autor elenca, principalmente, as seguintes razões: (i) estaria equivocada a tese segundo a qual o dolo deve ser somente conhecimento em razão de este ser o elemento que permite que o agente domine o fato, pois a vontade é que realizaria esse domínio, afinal o agente “não controla a sua conduta causal simplesmente pelo conhecimento”[12]; (ii) o dolo seria um “núcleo redutor subjetivo da tipicidade, constituindo-se de dois filtros: o conhecimento e a vontade”, de modo que retirar um desses filtros constituiria um irracional “aumento repressivo”[13]; (iii) criticar-se-ia somente um “mau uso” da “teoria volitiva” e não a teoria em si[14].
Desejo, neste trabalho, analisar essas três assertivas, com o fim de contribuir para esse crescente debate sobre a diferenciação entre dolo e culpa.
Sobre a questão do domínio
O primeiro dos principais pontos de Rezende é que é somente por meio da vontade que um indivíduo não só é capaz de controlar um curso causal, mas que efetivamente o faz. Desse modo, estaria equivocado o argumento do domínio a favor das teorias cognitivas[15]. Para reforçar a sua posição, o autor recorre ao frequentemente exposto Caso do Atirador de Lacmann, na versão modificada por Souza Santos[16]. Em resumo, dois indivíduos apostam suas respectivas propriedades em sua totalidade no seguinte desafio: um deles, o atirador, teria que acertar um tiro à distância no chapéu de uma mulher; o atirador erra, mata a vítima e perde todo o seu patrimônio. Aqui, teríamos a prova cabal do erro da tese questionada por Rezende: “como afirmar que alguém dominou a realização do fato quando o fato realizado foi exatamente o contrário do que o agente tentava propor no mundo?”[17], questiona o autor.
O problema desse argumento é que ele combate um espantalho. O domínio referido pela tese questionada não equivale a um controle total sobre o resultado. Aliás, sendo esse o significado de domínio com o qual o autor trabalha, esse exemplo prova, na realidade, o erro da tese por ele defendida. Afinal, se a vontade é o elemento que permite que o indivíduo tenha total controle sobre o curso causal, o atirador do nosso exemplo não deveria ter necessariamente acertado o que ele queria, isto é, o chapéu?
Inclusive, se estivesse certa a tese defendida pelo autor, seria logicamente impossível a ocorrência de crime tentado doloso. Se “é a vontade consciente que domina a causalidade”[18], como seria possível ocorrer uma tentativa de crime doloso? A vontade, nesses termos, levaria necessariamente ao resultado desejado pelo autor. Estaríamos, então, diante de um caminho bifurcado em que ambas as opções levam ao absurdo: de um lado, teríamos que afirmar a absoluta irracionalidade do legislador[19], pois ele teria desejado o impossível, isto é, a punição do crime tentado; por outro, teríamos que salvar a vontade legislativa afirmando que, na realidade, a regulação da tentativa destinar-se-ia somente aos crimes culposos, não aos dolosos, invertendo-se a lógica do sistema atual. Por óbvio, não era essa a vontade do autor; sendo assim, esta seria uma reductio ad absurdum que impossibilita a aceitação da tese escrutinada.
Talvez o próprio autor possa dizer que não desejava defender uma ideia de domínio nesses termos. Mas, se ele assim o fez, deve admitir que o domínio manejado pela tese contrária também não é no sentido por ele criticado. Logo, a pergunta retórica realizada por Rezende e aqui transcrita (“como afirmar que alguém dominou a realização do fato quando o fato realizado foi exatamente o contrário do que o agente tentava propor no mundo?”) pode ser respondida simplesmente: é possível afirmar que o indivíduo dominou o acontecimento porque ninguém trabalha com um conceito de domínio absoluto sobre a ocorrência do resultado no debate sobre o dolo.
E qual seria, então, a acepção correta sobre o domínio aqui defendida? O domínio, aqui, é sobre o que se faz e não sobre o resultado ocorrido. E só poderia ser assim, visto que o dolo é uma questão de desvalor da conduta, não de desvalor do resultado. É por isso que, creio eu, Greco não defendeu um domínio absoluto sobre a realização do resultado. “Aquele que sabe o que faz e o que pode decorrer de seu fazer controla, em um certo sentido, aquilo que faz e o que pode decorrer de seu fazer”[20]. Se o autor desejasse falar de domínio absoluto, os termos grifados não exerceriam nenhuma função na frase transcrita.
Desse modo, eu gostaria, assim, de trabalhar com um pouco mais de detalhes essa ideia de domínio no sentido do dolo. O domínio aqui, é sobre a própria conduta e o resultado provável que ela está em vias de produzir. O ordenamento jurídico cria tipos penais sob ameaça de um mal que denominamos pena. Dessa constatação, é natural concluir que o ordenamento jurídico emite proibições (no caso de crimes comissivos) e mandados de conduta (nos crimes omissivos). Se eu digo que se você fizer X, irei te punir com a medida Y, é evidente que o faço porque desejo que você não faça X[21]. A ideia de domínio, portanto, é do agente com relação à violação da norma que está implícita no tipo penal. O indivíduo que age com dolo domina essa violação de um modo que quem age culposamente não é capaz de fazer. E, para um domínio nesse sentido, basta que o agente conheça que a sua conduta é em alguma medida perigosa[22] para o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão. Se o agente quer ou não o resultado previsto no tipo, poderia até constituir um plus de desvalor, mas não é condição necessária do domínio nos termos aqui enunciados.
A questão da ‘expansão’ da punibilidade
O segundo grande argumento da tese de Rezende é, conforme exposto, que renunciar à vontade significaria dispensar um importante filtro para a contenção do poder punitivo. O autor assumidamente parte das premissas da tese zaffaroniana sobre a relação entre direito penal e poder de punir: “o poder punitivo é parte do Estado de Polícia, o qual busca sempre a sua expansão, restando ao Direito Penal somente a função de limitar tal poder face à sua irracionalidade”[23]. Não desejo aqui entrar profundamente no debate sobre se a tese de que somente a redução do alcance da punibilidade é bem-vinda. Sobre isso, por exemplo, Viana buscou argumentar brevemente em sua monografia sobre dolo[24] e Greco manifestou-se em mais de uma oportunidade[25].
Em vez disso, além das razões enunciadas nos trabalhos citados, eu gostaria de fornecer ao leitor uma adicional, de pretensões muito mais modestas, cujo alcance limita-se ao direito positivo posto. A Constituição brasileira, na sua atual configuração, enuncia uma série de mandados de criminalização e pressupõe a legitimidade da tutela penal[26]. Desse modo, creio que uma dogmática penal que entenda o poder punitivo como algo de todo ilegítimo e que só pode ser contido não é compatível com o direito constitucional brasileiro atual. A tese zaffaroniana pode ter alguma razoabilidade em nível sociológico, ou até mesmo em sede de filosofia política (o que não vou analisar na presente sede), mas, para o que aqui interessa, que é o dolo, creio ser de todo inadequada à luz do direito positivo brasileiro atual.
Quando debatemos dolo, estamos refletindo sobre os critérios de decisão a cargo do Poder Judiciário. Admitir o pressuposto segundo o qual o poder de punir é ilegítimo e querer que isso tenha reflexos na atividade jurisdicional equivale a colocar o juiz entre a cruz e a espada: de um lado o juiz deverá entender como ilegítimo o seu próprio poder em decretar medidas como, por exemplo, mandados de prisão; por outro lado, esse mesmo juiz terá que entender que, apesar de ilegítimo, a Constituição e o direito infraconstitucional mandam que ele exerça esse poder de toda sorte. Não estaríamos somente impondo um desconforto cognitivo ao julgador, mas verdadeiramente colocando-o diante de uma situação de empate por afogamento, pois ao juiz não restaria nenhuma jogada válida. Tanto punir quanto não punir seriam igualmente ilegítimos.
Mas poderíamos, ad argumentandum tantum, superar o insuperável e supor, sim, que toda redução do poder punitivo é sempre a opção correta. Mesmo diante dessa questão, as teorias cognitivas levariam sempre a uma expansão de punibilidade frente às teorias volitivas? Para aceitar a tese que o elemento volitivo sempre será um filtro adicional que contenha o poder punitivo, tem-se, creio eu, que assumir que toda teoria volitiva limitará a punição do caso concreto em relação a qualquer teoria cognitiva. No máximo, poder-se-ia aceitar que, eventualmente, teorias volitivas e cognitivas cheguem à mesma resposta. Mas jamais pode-se aceitar que uma teoria volitiva responda que o crime é doloso onde uma teoria cognitiva responda pelo crime culposo.
Creio que afirmar isso com esse grau de convicção seja um tanto quanto apressado. E não preciso recorrer a exemplos que beirem o extraordinário para demonstrar isso. Fiquemos com o conhecido caso do indígena Pataxó: alguns jovens viram a vítima dormindo em um ponto de ônibus e resolveram “pregar uma peça” nela: acordá-la mediante fogo. Jogaram gasolina na vítima e, ato contínuo, fogo. Surpresos e assustados com a dimensão da chama criada, fugiram do local. O indígena morreu.
Se, por exemplo, adotarmos a teoria da vontade de atuação não atuada de Armin Kaufmann – uma teoria volitiva do dolo –, segundo a qual a vontade de evitação do resultado elimina a aceitação deste e que, portanto, o crime será culposo quando for possível verificar que o agente tenha realizado ações para impedir as possíveis consequências acessórias de sua ação (os denominados contrafatores)[27]. No caso em exame, não há notícia de que os agentes tenham feito algo para impedir a morte do indígena; pelo contrário, chegaram a fugir do local quando verificaram a dimensão da chama criada, deixando a vítima à própria sorte. Por outro lado, se analisarmos o caso à luz da teoria (cognitiva) da probabilidade subjetiva de Hellmuth Mayer[28], segundo a qual a diferença entre dolo e culpa é quantitativa e reside na representação do agente acerca da probabilidade de ocorrência do resultado – para ser doloso, o agente deve ter representado o resultado como algo mais que meramente possível –, o espanto dos agentes diante da inesperada dimensão que o fogo alcançou não indica que eles tenham representado, no momento de suas condutas, o resultado como algo mais do que meramente possível, de modo que se pode defender a imputação por crime culposo.
Não é possível afirmar, assim, que qualquer teoria volitiva sempre restringe mais a punição do que qualquer teoria cognitiva. De todo modo, o pressuposto segundo o qual sempre se deve restringir a punibilidade não responde o principal problema à luz do Código Penal brasileiro: o que significa assumir o risco de produção do resultado no sentido do art. 18, I?
Por outro lado, podemos visualizar a tese do autor não no sentido que teorias volitivas sempre restringem a punibilidade na comparação com as teses cognitivas, mas que teriam a potencialidade de fazê-lo. Isto é, a vontade, como elemento adicional do dolo, pode render uma maior restrição do poder punitivo. Seria quase um cálculo matemático: ter dois elementos é melhor para restringir o poder punitivo do que ter somente um.
No mínimo, essa tese ainda não se provou diante dos fatos. Ademais, ela é problemática, conforme já exposto, à luz do direito positivo brasileiro, que adota outros critérios que não se destinam à necessária redução do poder punitivo. O inciso I do Código Penal determina que o crime é doloso “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. Querer o resultado equivale a agir com conhecimento e vontade. Se o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco, fica claro que assumir o risco não pode equivaler a agir querendo o resultado. Afinal, o termo “ou” é uma conjunção alternativa; se querer o resultado equivalesse a assumir o risco, a conjunção empregada não teria nenhuma função na frase. Seria uma superfluidade.
E, na realidade, nenhuma teoria volitiva trabalha com um elemento anímico no dolo eventual que equivalha ao querer do dolo direto de 1º grau. Tentam-se substitutivos à ideia de vontade em sentido forte, mas partindo dessa ideia de vontade para o seu desenvolvimento. E, conforme já exposto, até agora esse alegado potencial redutor ainda não se demonstrou no debate. Talvez porque conhecimento e vontade não sejam de todo indissociáveis. Nos casos de dolo direto de 2º grau, por exemplo, seria irracional alguém dizer que não queria o resultado se o tinha representado como consequência inevitável de sua conduta. Caso realmente não quisesse, o indivíduo não teria agido da forma como agiu.
Questão conceitual fundamental para o debate
Ao terceiro argumento do autor por mim destacado, não desejo necessariamente replicá-lo, mas somente usá-lo com gancho para uma reflexão conceitual. O autor, em muitos momentos do texto analisado, trata as teorias cognitivas e volitivas como dois blocos monolíticos. Por exemplo: “se está havendo uma flexibilização das exigências da teoria volitiva a fim de se punir mais do que ela permite, isso não significa…”[29]; “de que, mesmo se abandonado o elemento “vontade” como limitação, a teoria cognitiva seria capaz de, em alguns casos, punir menos”[30]; “pode-se falar da objeção que afirma que a teoria volitiva do dolo não levaria a exigência do elemento volitivo a sério”[31].
Não creio, evidentemente, que o autor desconheça que há uma multiplicidade de espécies de teorias volitivas e cognitivas. O autor, evidentemente por transitar na esfera da fundamentação da teoria do dolo e não da adoção de uma teoria específica sobre a zona fronteiriça entre dolo e culpa, optou por tratar as teorias em dois grandes blocos. Entretanto, creio que o debate só irá evoluir quando os seus proponentes superarem o debate sobre se o dolo possui ou não vontade.
É evidente que tomar posição nesse nível fundamental é condição lógica para a adoção de critérios. Entretanto, creio eu, é uma condição somente necessária, mas não suficiente para o debate. Mais importante que isso continua sendo traçar concretamente quais são os adequados critérios para determinar, nos termos do art. 18, I, CP, o que é assumir o risco e, por consequência, diferenciar dolo e culpa nos casos limítrofes.
Ademais, ater-se somente à questão linguística “teoria volitiva x teoria cognitiva” leva a várias imprecisões. Em primeiro lugar, etiquetar uma teoria específica como volitiva ou cognitiva não corresponde a um exato cálculo matemático. Pode haver divergências. Por exemplo, Viana, em sua tese doutoral, trata as por ele chamadas teorias do consentimento de 2º grau como teorias volitivas e a variante subjetiva da teoria do perigo, de Wolfgang Frisch, como teoria cognitiva[32]. Eu, por exemplo, não estou certo nem de uma coisa, nem de outra. Desse modo, se eu me considero um cognitivista, vou concluir que as citadas teorias estão certas ou erradas primeiro com base na minha classificação sobre as suas naturezas? Temos que olhar para os critérios, sobretudo à luz do direito positivo brasileiro.
Por fim, creio que muitos argumentos não se sustentam justamente por essa redução “teoria volitiva x teoria cognitiva”. Exemplo claro contido neste texto: dizer que “a teoria volitiva” sempre restringe a punibilidade em face “da teoria cognitiva” pressupõe desconsiderar as particularidades contidas na multiplicidade de teorias que são encaixadas nesses conceitos guarda-chuva. Com isso, ignora-se que uma teoria volitiva pode considerar doloso um fato que uma teoria cognitiva considera culposo. E vice-versa.
Para concluir, creio ser suficiente elencar os pontos principais defendidos neste estudo:
- O argumento do domínio manejado no debate sobre o dolo não pode, conceitualmente, equivaler a um controle absoluto sobre a ocorrência ou não do resultado. Pelo contrário, o domínio é sobre a própria conduta e em relação à norma de conduta prevista no tipo penal.
- A tese segundo a qual o poder punitivo é sempre ilegítimo e que, portanto, a ciência do direito penal deve buscar sempre a sua redução não é compatível com o direito constitucional e infraconstitucional brasileiro. E, mesmo que fosse, não é possível afirmar que todas as teorias volitivas sempre restringem a punibilidade quando comparadas com todas as teorias cognitivas.
- A dicotomia “teoria volitiva x teoria cognitiva” leva inúmeras vezes a confusões, pois desconsidera fundamentalmente as diferenças entre as distintas teorias sobre a distinção entre dolo e culpa.
[1] HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao código penal, volume I, tomo II: arts. 11 ao 27. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 114.
[2] PUPPE, Ingeborg. A distinção entre dolo e culpa. Trad. Luís Greco. Barueri: Manole, 2004.
[3] GRECO, Luís. Dolo sem vontade. In: SILVA DIAS, Augusto et al (orgs.). Liber Amicorum de José de Sousa e Brito. Coimbra: Almedina, 2009, p. 885-903.
[4] SANTOS, Humberto Souza. Problemas estruturais do conceito volitivo de dolo. In: GRECO, Luís, LOBATO, Danilo (coords.) Temas de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 263-289.
[5] Idem. Elementos fundamentais de um conceito de dolo político-criminalmente orientado. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 20, n. 97, p. 87-118, 2012.
[6] VIANA, Eduardo. Dolo como compromisso cognitivo. São Paulo: Marcial Pons, 2017.
[7] GOMES, Enéias Xavier. Dolo sem vontade psicológica: perspectivas de aplicação no Brasil. Belo Horizonte: D’Plácido, 2017.
[8] MARTELETO FILHO, Wagner. Dolo e risco no direito penal. Fundamentos e limites para a normativização. São Paulo: Marcial Pons, 2020.
[9] TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 1ª ed. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018, p. 253-266.
[10] Se a tese foi ali aplicada corretamente é algo que deixo, aqui, em aberto, pois extrapolaria o tema deste artigo.
[11] REZENDE, Thiago Rocha de. A teoria cognitiva do dolo e o alargamento do poder de punir. Boletim Ibccrim, ano 30, nº 357, p. 19-21, 2022.
[12] Ibidem, p. 20.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem, p. 19-20.
[16] Cf. nota 4, p. 285.
[17] Cf. nota 12.
[18] Ibidem.
[19] A título de esclarecimento: parece-me claro que não podemos partir da premissa que o legislador é sempre sábio ou imune a erros. Entretanto, para o tema sob exame, isto é, a possibilidade de crime tentado doloso, parece-me um absurdo dizer que o legislador, aqui, desejava o impossível.
[20] Cf. nota 3, p. 891-892. Grifado por mim.
[21] Não desejo entrar aqui no debate sobre teoria da pena, de modo que não me aprofundarei em todas as possíveis decorrências do que acabo de expor. O que falei até aqui basta para a reflexão que o leitor está prestes a analisar. A um leitor mais interessado pelo tema, indico a tese doutoral de Greco, para nós, brasileiros, mais acessível na tradução espanhola: GRECO, Luís. Lo vivo y lo muerto en la teoría de la pena de Feuerbach: una contribución al debate actual sobre los fundamentos del Derecho penal. Trad. Paola Dropulich e José R. Béguelin. Madri: Marcial Pons, 2015, em especial o cap. III (p. 157-397).
[22] Em que medida é algo que deixo, aqui, em aberto, pois implicaria na adoção ou, ao menos, na indicação de adoção de uma teoria específica do dolo, o que não desejo no presente trabalho.
[23] Cf. nota 11, p. 21.
[24] Cf. nota 6, p. 156-158.
[25] Posso citar, no mínimo, GRECO, Luís. Hacia la superación de viejas certezas: la ciencia latinoamericana del derecho penal entre revelación y deconstrucción. En letra: derecho penal, ano 1, n. 2, p. 1-5, 2016; ademais, em Idem. Por que inexistem deveres absolutos de punir. Católica Law Review, v. I, n. 3, p. 115-126, 2017 o autor, ao negar um dever estatal absoluto de punir, acaba indicando um dever relativo. Por fim, cf. também nota 21.
[26] Para ficar só nos pontos incontroversos, o artigo 5º da CRFB/88, que enuncia direitos e garantias fundamentais, pressupõe a legitimidade do direito penal, no mínimo, em todos os seus incisos compreendidos entre o XLIII e o LI. Ademais, pode-se citar o art. 22, I, que confere ao Poder Legislativo federal a legitimidade para criar leis penais; o art. 37, §4º, que pressupõe a legitimidade da tutela penal em relação a atos de improbidade administrativa; o art. 129, que atribui ao Ministério Público a função de promover ações penais públicas. Há outros exemplos, mas creio que citar estes já é suficiente para o argumento.
[27] Por questões de economia de espaço, reduzi grosseiramente a fundamentação da teoria. Para um panorama mais completo, por todos, cf. nota 6, p. 124-130.
[28] Novamente, para uma exposição com mais detalhes, por todos, cf. nota 6, p. 213-217.
[29] Cf. nota 11, p. 21.
[30] Cf. nota 11, p. 20.
[31] Cf. nota 11, p. 21.
[32] Para um panorama das respectivas teorias, cf. nota 6, p. 91-101 e p. 224-230, respectivamente.