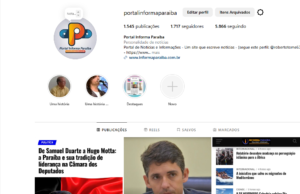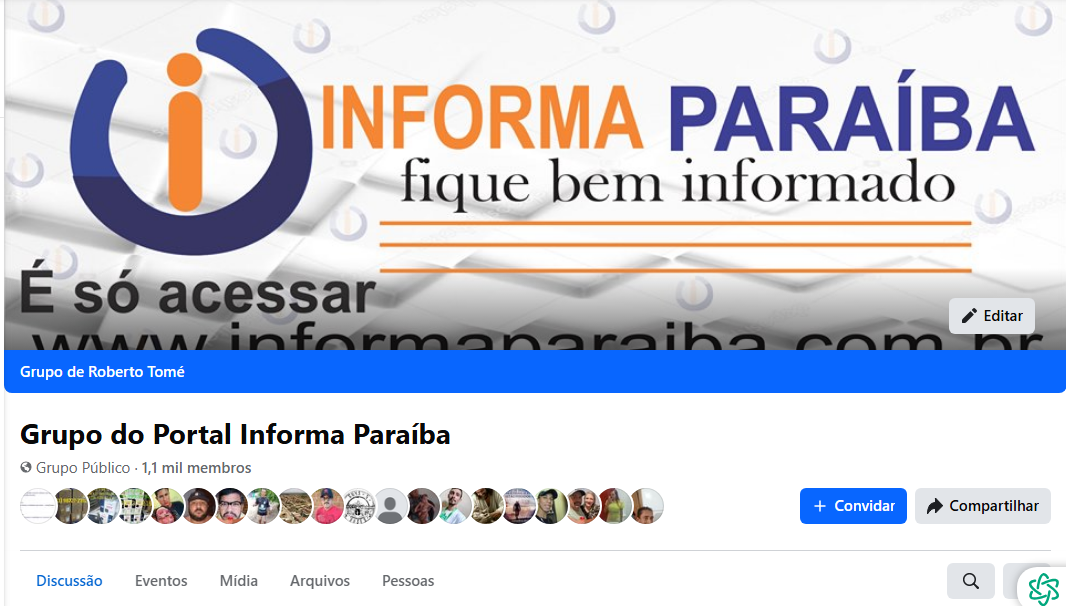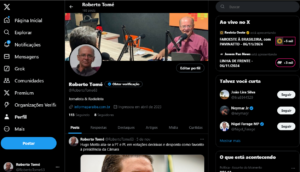Judiciário
Sobre a dupla residência da criança após o divórcio dos pais

Ao examinar as estatísticas oficiais brasileiras, referentes ao registro civil de 2022, e divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), depreende-se ter ocorrido significativo aumento de divórcios judiciais com sentenças de guarda compartilhada dos filhos, sendo constatado que, em 2014, tal percentual perfazia o total de 7,5% dos casos, evoluindo para 37,8% em 2022.
Percebe-se, aparentemente, uma ascensão dos casos de compartilhamento das responsabilidades parentais entre os genitores pós-separação conjugal.
Contudo, é forçoso questionar se o suposto aumento dos casos de guarda compartilhada enunciado pelas estatísticas oficiais brasileiras reflete o necessário equilíbrio que deveria existir na convivência da criança com seus pais (parenting time), após o divórcio ou dissolução da união estável, como propõe o artigo 1.583, §2º do Código Civil (CC) (Brasil, 2022).
Afinal, que modalidade de guarda compartilhada está sendo refletida nas estatísticas oficiais, se a grande maioria da jurisprudência brasileira ainda insiste em somente atribuir a guarda compartilhada condicionada à fixação de um “lar de referência” ou a uma “residência habitual” para a criança?
Que tipo de guarda compartilhada retrata a estatística oficial que não possibilita aos “filhos do afeto” (Dias, 2022) se beneficiarem de ampla e equilibrada convivência familiar com os dois genitores e seus parentes, e ainda insiste em fixar uma única residência a essa(s) criança(s), como se a segurança e estabilidade emocional do filho estivesse ligado a um lar e não ao relacionamento com seus pais?
A exigência em se determinar a guarda compartilhada condicionada à fixação de uma única residência ao(s) filho(s) de pais separados não encontra respaldo legal, nem mesmo Constitucional.
Ao se interpretar sistematicamente os artigos da Constituição de 1988 (CF/88), precisamente o disposto no artigo 227, em conjunto com os artigos 1.583, §2º, 1.634 do CC, bem como artigos 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 5º da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), percebe-se que a intenção do legislador é assegurar aos filhos o direito de manterem convivência saudável com seus genitores e respectivos familiares. A separação ou divórcio dos pais não deve ser impedimento para a efetivação do direito da criança de ampla convivência familiar (Brasil, 1990, 2002, 2016, [2023]).
Tal preocupação esteve no cerne do debate legislativo, quando da tramitação do Projeto de Lei nº 1.009, de 2011, que deu origem à Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014, ocasião em que o Relator da referida proposição na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Dr. Rosinha, manifestou-se nos seguintes termos, in verbis:
“muito louvável a intenção do ilustre autor do presente Projeto de Lei. A guarda ou custódia dos filhos é parte integrante do poder familiar e, como tal, deve ser mantida ao pai e à mãe após a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, sempre que estes estiverem em condições de exercerem o poder familiar, conforme previsto no artigo 1.634 do nosso Código Civil. Dessa forma, a guarda dos filhos somente pode ser subtraída de um dos genitores caso o mesmo tenha sido expropriado do exercício do poder familiar, por meio de sentença da qual não cabe mais recurso, nos termos dos artigos 1.635 a 1.638 do Código Civil” (Ferreira, 2024, p. 80).
A Lei nº 13.058/14 tornou claro para os juízes a obrigação de decretar a guarda compartilhada, desde que ambos possam exercer o poder familiar e desejem exercitá-la. Ademais, previu-se explicitamente a necessidade de equilíbrio no tempo de convívio do filho com a mãe e com o pai, sempre tendo em conta as condições fáticas e os interesses dos menores — artigo 1. 583, §2º do CC (Brasil, 2002).
Percebe-se claramente que o objetivo maior do compartilhamento da guarda da criança seria assegurar maior aproximação física e contato dos filhos com ambos progenitores, sendo a modalidade de convivência que garante, de forma efetiva, a corresponsabilidade parental, além da proporcionar uma vinculação mais estreita e a ampla participação de ambos na formação e educação do filho, o que não se vislumbra numa simples visita ou em finais de semanas alternados.
Entende-se, pois, que as alterações legais promovidas pela Lei nº 13.058/14 no Código Civil brasileiro introduziram a possibilidade de aplicação da guarda física compartilhada, equivalente ao shared/joint physical custody da legislação americana ou a residência alternada no Direito português, inserindo-se nessa modalidade de guarda a prática da dupla residência da criança pós divórcio (Brasil, 2014a).
Passados mais de 15 anos da introdução da guarda compartilhada no Direito brasileiro, a forma como a jurisprudência pátria vem lidando com este importante instituto jurídico acaba propiciando uma distinção entre os genitores sem qualquer respaldo legal, ao colocar o genitor detentor do suposto “lar de referência” em posição de superioridade em relação ao outro, a quem foi atribuído um direito de “visita”.
É preciso deixar claro, desde logo, que a lei brasileira nada dispõe acerca da necessidade de fixação de uma residência habitual para o menor. Ao contrário, há expressa disposição no sentido de ser necessário haver um equilíbrio no tempo de convivência dos filhos com ambos os genitores, evidenciando a intenção legal, portanto, em possibilitar a dupla residência da criança pós-divórcio com ambos os genitores (guarda física compartilhada).
Ao estudar as razões que fundamentam as decisões judiciais para fixar a residência habitual da criança percebe-se que estas não são pautadas por questões jurídicas, mas, principalmente, em premissas não embasadas em estudos científicos, alegando-se uma suposta garantia de estabilidade emocional da criança, pois pressupõem que a alternância de lares pode causar confusões psicológicas para a criança, a qual perderia o seu referencial de moradia (Ceará, 2021).
Não teria a sociedade brasileira acolhido verdadeiramente a guarda compartilhada? O que vem impedindo a efetivação desse direito fundamental da criança ampla convivência familiar?
Embora não existam estudos de grande escala em nosso país que tenham endereçado esta questão, após analisar acórdãos de diversos estados brasileiros, bem como diante da minha experiência como Defensora Pública do estado do Amazonas, titular de núcleo/setor de mediação familiar, percebo que houve sim acolhimento pela sociedade brasileira da essência da guarda compartilhada, sendo constatados em muitos casos judiciais e extrajudiciais o compartilhamento por ambos os pais não só das responsabilidades parentais mas sobretudo da convivência com os filhos em comum.
Uma nova fase?
O que se percebe, no Brasil, é que embora a legislação tenha sido alterada, inicialmente em 2008 e depois em 2014, para introduzir no ordenamento jurídico a guarda compartilhada, tal instituto jurídico não foi acolhido em sua plenitude pelos agentes jurídicos, os quais demonstram em seus posicionamentos desconhecerem os resultados positivos dos diversos estudos científicos já publicados internacionalmente em relação à tal temática, que apontam variados benefícios à saúde e bem estar dos menores, além de confundirem com o instituto jurídico da guarda alternada, o qual não é aceito no Brasil.
Entretanto, observa-se um avanço nas discussões da temática da guarda física compartilhada em tribunais do nosso país, por meio de acórdãos ou sentenças judiciais que acolhem integralmente acordos que estabelecem a guarda física compartilhada com a dupla residência da criança, prezando-se pelo direito fundamental da criança de ampla convivência familiar (Rio Grande do Sul, 2021, São Paulo, 2021).
Tais decisões judiciais quebram paradigmas e rompem com a prática judicial brasileira de somente acolher a guarda compartilhada com fixação de uma única residência ou lar de referência aos filhos do divórcio, merecendo portanto serem destacadas pois se amoldam aos princípios da coparentalidade e igualdade parental, além de fazerem valer, evidentemente, o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, conferindo autonomia às partes na regulação das suas relações familiares (Ferreira, 2024).
Estaria o Brasil entrando numa nova fase de aplicação da guarda compartilhada?
Talvez esse posicionamento possa indicar o início de uma nova fase de aplicação da guarda compartilhada no Brasil, com o acolhimento da guarda compartilhada em sua modalidade mais ampla: a guarda física compartilhada, na qual se insere a prática da dupla residência da criança após o divórcio.
Pode parecer sutil tal mudança de postura, mas revela, em minha opinião, um amadurecimento das nossas cortes no sentido de incluir verdadeiramente nas decisões judiciais o princípio da coparentalidade, uma vez que o exercício da parentalidade não se faz apenas de modo virtual, pela tomada de decisões em conjunto, mas se expressa pela efetiva participação conjunta e convivência da criança com ambos os pais.
Em suma, a questão da dupla residência da criança após a separação dos pais é um tema imbuído de controvérsias que necessitam urgentemente serem esclarecidas e debatidas no Brasil, entre todos aqueles profissionais que lidam com os direitos das crianças.
Finalizo essa breve reflexão conclamando a todos os intervenientes que atuam em processos de guarda judicial, sejam magistrados, promotores, defensores públicos, advogados, assim como os peritos da área de psicologia, assistência social ou médicos, que compõem a equipe multidisciplinar das Varas de Família, a atentarem para as reais necessidades das crianças, em especial, a continuidade da manutenção dos vínculos afetivos e convivência familiar, tão duramente fragilizados quando da história atribuição da guarda unilateral, devendo encorajar as famílias, quando as circunstâncias assim o permitirem, a praticarem a dupla residência da criança, consagrando o seu direito de não ser afastada de seus pais, tal como previsto na Convenção Internacional sobre os direitos das crianças.
Referências
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 1 jan. 2024.
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 25 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11698.htm. Acesso em: 1 dez. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13058.htm. Acesso em: 1 dez. 2024.
BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. Acesso em: 1 dez. 2024.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 1 dez. 2024.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.428.596/RS. Disponível em: https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1326780&tipo=0&nreg=201303761729&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140625&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 19 ago. 2024.
CEARÁ. Tribunal de Justiça (1ª Câmara Direito Privado). Agravo Interno Cível de 0012905-42.2015.8.06.0075/50000. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-ce/1325450107. Acesso em: 19 ago. 2024.
DIAS, M. B. Filhos do afeto. 3. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022.
FERREIRA, P. S. P. M. A dupla residência da criança pós-divórcio: uma análise de Direito Comparado e sua aplicação no Direito brasileiro. 2. ed. Belo Horizonte: Editora D’ Plácido, 2024.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas do Registro Civil 2022. IBGE, Rio de Janeiro, v. 49, n. 1, p. 1-12, nov. 2022. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2024/03/Registros-civis-2022.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça (7ª Câmara Cível). Recurso de Apelação Cível 5111669-13.2020.8.21.0001/RS. Apelação Cível. Família. Ação de acordo de guarda. Alimentos e convivência. Guarda compartilhada com alternância de lares. Desnecessidade de apontar a residência-base. Manutenção da decisão. Hipótese que melhor atende ao interesse da criança. Relação harmônica dos genitores e decisão embasada em laudo neuropsicológico que aponta os benefícios à manutenção da dinâmica adotada e homologada judicialmente. Embasamento teórico, doutrinário e orientação jurisprudencial superior que ratificam o posicionamento adotado. Relator: Roberto Arriada Lorea, 25 de agosto de 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rs/112926860/inteiro-teor-112926935. Acesso em: 19 ago. 2024.
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça (1ª Câmara de Direito Privado). Agravo de Instrumento 2087818-24.2021.8.26.0000/SP. Regulamentação de guarda. Decisão que deixou de homologar acordo realizado entre as partes. Desacerto. Recorrentes que propuseram regime de guarda compartilhada com dupla residência da criança, com intuito de consolidar situação de fato. Guarda compartilhada com dupla residência não se confunde com guarda alternada. Participação conjunta dos pais de todos os atos relevantes à vida do filho comum, com divisão de tempo e estabelecimento da residência dupla da criança, sem qualquer óbice legal, segundo se depreende da leitura do artigo 1.583, §2º do Código Civil. Pais moram na mesma cidade e apresentam excelente relacionamento. Inexistência de razão para o Estado juiz interferir no acordo e impor aos pais regime de guarda que não desejam e não atende aos interesses do filho. Melhor interesse do menor preservado. Homologação do acordo na origem. Recurso provido. Relator: Francisco Loureiro, 19 de julho de 2021.