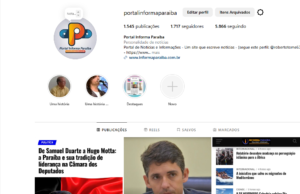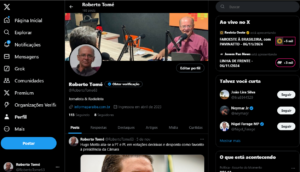Judiciário
Suprema corte decidiu que cinema não era ‘expressão’, mas depois mudou de ideia
‘The Miracle Decision’ e o fim da censura prévia nos Estados Unidos

Nas duas primeiras décadas do século XX, os “motion pictures” (quadros em movimento) tornaram-se a principal forma de entretenimento nas grandes cidades americanas, substituindo as célebres operetas populares. As puritanas e pudicas autoridades públicas da América ficaram atentas: projetadas em telas improvisadas nos velhos teatros de “vaudeville”, as produções visavam ao lucro e para atrair o público ousavam na linguagem e no conteúdo. O sucesso do cinema no alvorecer do século passado foi tão espetacular que teatros começaram a ser erguidos aos milhares apenas para exibir as películas, ao módico preço de “um níquel”. Calcula-se que em 1910 havia cerca de dez mil “nickelodeons” recém construídos apenas nos Estados do norte dos EUA.
A novidade magnetizante do cinema e o atrevimento que lhe era inerente constituíam um dos principais alvos das organizações civis da “Progressive Era”: associações heterogêneas que combatiam a “degeneração” da América original por imigrantes, católicos, magnatas, socialistas e arrivistas de toda sorte; esses cruzados antimodernistas (por vezes ambiguamente modernizantes) pregavam a adoção de normas moralizadoras contra a prostituição, o trabalho infantil, o comunismo, os monopólios, a poluição, a corrupção, o alcoolismo e outros males da sociedade industrial, para a preservação “da moral e dos bons costumes”.
Nesse espírito de desconfiança inerente à “Belle Époque”, os guardiães da moralidade logo começaram a emanar os seus éditos de censura prévia. A indústria do cinema pré-Hollywood começou a se desenvolver inicialmente na Costa Leste, especialmente na Nova Inglaterra e no Meio-Oeste. A Pennsylvania foi o primeiro Estado a aprovar uma lei de censura a filmes exibidos nos cinemas. A norma dava poder a uma comissão para negar autorização a películas que mostrassem cenas “sacrílegas, obscenas, indecentes, ou tendentes a corromper a moral”. Também eram vetadas imagens de “nudez, infidelidade, mulheres bebendo ou fumando ou em situações de ‘paixão prolongada’”. Semelhante regulação ocorreu no Estado de Ohio, onde um conselho censor condicionava a exibição de filmes a uma avaliação do seu conteúdo, autorizando apenas obras “morais, educacionais, divertidas ou inofensivas”. Para obter a “licença de exibição”, as empresas cinematográficas deveriam submeter as suas produções ao órgão censor e pagar uma taxa pelo serviço.
A Mutual Film Corporation produzia “cinejornais”, resumos audiovisuais de notícias semanais ou mensais que eram mostrados em geral antes de produções ficcionais, embora houvesse também sessões exclusivas para esse tipo de projeção. Os cinejornais da Mutual eram vendidos para teatros de vários estados, e em Ohio, Illinois, Pennsylvania e Kansas, de acordo com as leis locais, a empresa era obrigada a submeter-se a censura prévia, pagando taxas para o “licenciamento” de suas produções.
O procedimento de licenciamento em diversos Estados era burocrático, lento e custoso. Cada localidade exigia procedimentos e documentos diferentes, aplicava critérios distintos de censura, cobrava taxas desarrazoadas e, pior, demorava muito a conceder a autorização. Muitas vezes as licenças só eram emitidas quando as notícias dos cinejornais já eram velhas.
Foi por esse motivo que a Mutual Film Corporation processou a Industrial Commission of Ohio, questionando a censura prévia em face da Primeira Emenda, mas também as legislações estaduais em face da famosa Cláusula do Comércio, que atribui à União, por meio do Congresso, o poder de legislar sobre atividades relativas à atividade comercial interestadual. A linha de argumentação básica do requerente sustentava que o “cinejornal” era um meio de imprensa tanto quanto jornais e revistas impressas, estando protegido pela cláusula de liberdade de imprensa e de expressão (freedom of speech). E, circulando além das fronteiras estaduais, tal como um jornal ou revista, somente poderia ser regulado por leis federais.
O caso chegou à Suprema Corte, que rejeitou a tese dos requerentes (Mutual Film Corporation v. Industrial Comission of Ohio, 236 U.S. 230 (1915)). Os juízes, em decisão unânime, afirmaram que o cinema não poderia ser comparado à imprensa, pois não demandava alfabetização ou “reflexão” para sua compreensão e, assim, “ausente a razão”, poderia provocar reações irracionais.
De acordo com a fundamentação, os filmes eram “vívidos, úteis, entretinham, porém… eram igualmente capazes de produzir o mal devido à sua atratividade e modo de exibição”. A corte ainda declara que os filmes eram mero entretenimento e espetáculo, ou “um negócio como qualquer outro, concebido e conduzido para o lucro”, insuscetíveis assim de proteção pela Primeira Emenda. O argumento de violação à cláusula do comércio foi enfrentado de forma bastante superficial e também rejeitado.
Embora a decisão tratasse de “cinejornais”, seus efeitos foram deletérios e duradouros para a indústria do cinema americano.
Como a produção e exibição das películas em teatros foi considerada um “negócio” do ramo dos espetáculos (semelhante ao circo, por exemplo), ela era suscetível de regulação pública, inclusive quanto ao conteúdo.
Isso provocou um “chilling effect” nos estúdios, que passaram a criar normas internas de autocensura para evitar que suas caras produções fossem proibidas e inviabilizadas. Foi assim que nasceu o famoso “Código Hays” de Hollywood, um conjunto de regras implementado na década de 1930 sobre temas e linguagens a serem evitadas, como, por exemplo, beijos lascivos e sugestões sexuais.
Foi somente na década de 1950 que a jurisprudência da Suprema Corte iria mudar radicalmente, e os responsáveis indiretos por essa guinada foram os aclamados cineastas italianos Federico Fellini, Tullio Pinelli e Roberto Rossellini. Eles eram autores do polêmico filme “O Milagre”, cujo enredo narra a história de uma camponesa italiana inocente e católica fervorosa, seduzida por um homem que a ludibria dizendo ser São José.
Abandonada grávida, ela acredita que o seu filho é Jesus Cristo. Um distribuidor do filme nos EUA, Joseph Burstyn passou a exibi-lo em Nova Iorque, onde ele foi objeto de uma campanha de boicote patrocinada pela Legião Nacional da Decência (National Legion of Decency), sendo atacado como uma produção “anticatólica” e “sacrílega”. Essa entidade denunciou a exibição do filme a “New Tork State Board of Regents”, órgão encarregado de fazer a censura dos teatros naquele Estado, cujos integrantes decidiram por embargar a obra e retirá-lo de circuito.
O exibidor do filme censurado recorreu ao judiciário e o caso acabou na Suprema Corte, que reverteu o precedente Mutual Film de 1915. O Justice Tom C. Clark, redator da decisão, observou as mudanças no direito e nas condições fáticas desde o julgamento anterior. Para ele, depois do caso Giltow v. New York (1925), a Suprema Corte afirmou o princípio da incorporação do Bill of Rights aos Estados, pelo que a cláusula de liberdade de expressão era oponível às leis estaduais que a infringissem.
Além disso, no plano dos fatos, considerou que era preciso ver o cinema em outra perspectiva distinta da época de seu surgimento, já que essa forma de expressão era cada vez mais empregada para refletir e influenciar a opinião pública, tendo evoluído de tal maneira que não poderia mais ser considerada apenas um “negócio”, mas sim uma forma de expressão artística, a qual havia sido restrita sem critérios objetivos no caso analisado.
Em um voto convergente, o Juiz Felix Frankfurter acrescentou ainda que o termo “sacrílego”, tal com constava da legislação de Nova Iorque, era “vago demais”, oportunizando o arbítrio estatal na imposição da censura. Esse julgamento iniciou o desmonte da censura prévia ao cinema nos EUA, e é conhecido como “The Miracle Decision”, em alusão ao nome do filme italiano.
No entanto, a plena liberdade de expressão no cinema americano ainda levaria algum tempo. A decisão no caso Burstyn v. New York 343 U.S. 495 (1952) ocorreu em plena era macarthista, na qual houve grande perseguição a roteiristas, diretores e atores de Hollywood e por isso os grandes estúdios passaram a evitar temas politicamente sensíveis, além de demitir centenas de profissionais acusados – no mais das vezes infundadamente – de comunismo. Assim, a autocensura prosseguia na indústria.
Além disso, a própria decisão da Suprema Corte no caso Burstyn não tinha sido abrangente o suficiente quanto ao conteúdo das produções: embora estabelecendo o cinema como arte expressiva e a albergando sob a Primeira Emenda, de alguma forma a submetia às demais restrições decorrentes da doutrina do “discurso protegido” (protected speech), segundo a qual a liberdade de expressão não era absoluta, podendo ser limitada em face de outros valores constitucionais.
Por exemplo, cinco anos depois do caso Burstyn, a Suprema Corte firmou o célebre precedente Roth v. United States, 354 U.S. 476 (1957), no sentido de que a obscenidade não estava protegida pela Primeira Emenda, abrindo assim a possibilidade de censura a filmes por critérios mais objetivos.
E, logo a seguir, em 1961, no caso Times Film Corp. v. City of Chicago, 365 U.S. 43 (1961), pela estreita maioria de cinco votos a quatro, a Suprema Corte entendeu que os Estados poderiam manter órgãos de censura prévia para avaliação de conteúdo obsceno, embora no processo examinado nada mais constasse além do que o título do filme (Don Juan).
O voto da maioria foi redigido pelo Juiz Tom C. Clark, o mesmo que formulara a decisão no caso Burstyn, sendo vencidos os grandes juízes liberais Earl Warren, Hugo Black, William Douglas e William Brennan. A decisão da maioria estava mal construída do ponto de vista da argumentação, já que a possibilidade de restrição de material obsceno não induzia necessariamente à constitucionalidade de censura prévia.
Essa fragilidade levou à revisão da jurisprudência poucos anos depois, no caso Freedman v. Maryland 380 U.S. 51 (1965), quando o exibidor Ronald Freedman e a produtora Times Film Company se recusaram a submeter ao comitê de censura de Mayland o filme francês Revenge at Daybreak, que tratava da Revolução Iralndesa de 1916.
Na decisão, redigida pelo Juiz Brennan, embora reconhecendo o direito do Estado em “proteger a moralidade pública”, estabeleceu uma alteração procedimental, atribuindo aos órgãos de censura o ônus de demonstrar judicialmente a ilegalidade da produção artística no caso de pretender a negativa da “licença”, que assim só poderia ser indeferida por decisão judicial. Ou seja, na prática, inviabilizava a censura prévia por mero ato administrativo. Logo depois desta decisão, quase todos os Estados dissolveram seus comitês de censura, salvo o próprio Estado de Maryland, que o manteve até 1981.
Fonte: Jota
CÁSSIO CASAGRANDE – Doutor em Ciência Política, Professor de Direito Constitucional da graduação e mestrado (PPGDC) da Universidade Federal Fluminense – UFF. Procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro.