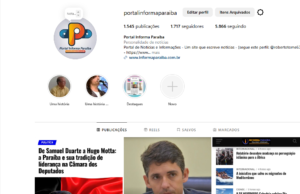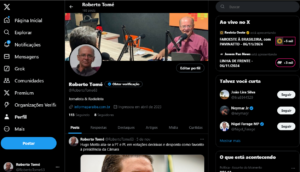Educação & Cultura
Huerta de Soto e Filosofia Antiga: um breve ensaio sobre o que não fazer quando se ignora algo

Uma crítica, para ter sentido, não pode depender da fama do seu autor, mas de sua competência interpretativa diante do objeto analisado.
Enquanto escrevo este texto, continuo a receber dezenas de mensagens de amigos e colegas a comentar artigo escrito por Jesús Huerta de Soto, intitulado “O pensamento econômico na Grécia Antiga“.
Uma primeira lição básica para qualquer estudioso da Filosofia – com especial ênfase aos estudiosos de Antiga – é: você aborda a obra de um autor de duas formas possíveis, tertium non datur:
a) historicamente, vale dizer, para tentar compreendê-lo nele mesmo, em sua força originária, tentando recompor, tanto quanto possível, com todas as dificuldades hermenêuticas envolvidas, a mensagem do autor em seu frescor natural. Isso é fazer “história da Filosofia”.
Eu, por exemplo, sou exatamente um historiador da Filosofia. Alguém que se interessa fundamentalmente pelo que um determinado autor disse, para além de eventuais sobreposições doutrinárias, subjetivas ou temporais. Claro, nem entrarei aqui nas dificuldades técnicas envolvidas nessa tarefa, especialmente quando falamos de uma tradição de pensamento que remete a corpus escrito há aproximadamente 2.500 anos. Mas essa é, em suma, a ideia central de uma abordagem eminentemente histórica;
b) teoreticamente, ou seja, segundo modelo de apropriação de determinada linha argumentativa (ou filosofia) útil à construção de um novo modelo explicativo. Essa abordagem teorética é bem mais comum do que se imagina a princípio. Poderia ficar páginas e mais páginas a explorar a longa fortuna crítica erigida a partir dela, mas talvez baste dizer, num texto curto como esse, que temos “o Heráclito de Heidegger”, o “Platão de Santo Agostinho”, o “de Hegel” ou o “de Hayek”, o “Aristóteles de Santo Tomás de Aquino” ou o “de Hannah Arendt” entre outros. É isso: um determinado pensador absorve de outro – geralmente incensado pela tradição – aquilo que lhe interessa, moldando a novo modelo explicativo o conteúdo absorvido. Que reste claro: isso nada tem a ver com história da Filosofia, mas com uso – que pode ser mais ou menos honesto, a depender de quem o conduz e de como o conduz – de reflexão alheia para uso próprio e diverso.
O que Mises, Rand, Hayek, Popper dizem de Platão ou de Aristóteles, por exemplo, tem muito pouco (nada, em alguns casos) a ver com platonismo ou aristotelismo stricto sensu, e muito mais a ver com pensamento misesiano, randiano, hayekiano ou popperiano. Tomado enquanto tal, o fato não é um problema. Pior, no entanto, é quando tal movimento de apropriação semântico-conceitual não só não é explicitamente anunciado pelo autor, mas vem a ser ainda oferecido como exegese historicamente calibrada do pensador parasitado, num ciclo de interpretações completamente equivocadas neste específico sentido.
Sim, também aqui Huerta de Soto se dobra a uma transmissão consuetudinária de leituras abstrusas, teoréticas, tortuosas, que violentam (algumas vezes de modo indesculpável) a arquitetônica filosófica a que se refere. Mas faz pior: joga com a ignorância do leitor e com elementos de criatividade descolados da realidade fática, como se escrevesse tomado pelo que os Antigos chamavam de “divina mania”, inspiração de musa que canta em seus ouvidos, nos de Huerta de Soto, um sem-número de absurdos lógicos, portadores, no entanto, de força estética sedutora aos que não sabem.
Dito isso, avancemos um pouco mais na questão, aqui absolutamente central, do método (e aqui Huerta de Soto e tantos outros erram de modo realmente impactante).
Não se lê um Filósofo Antigo como quem lê Kant – que foi inclusive dicionarizado ainda em vida – ou Hegel ou Sartre. Estamos diante de bibliografia que demanda cuidados adicionais, sem os quais nos perdemos completamente. Sequer entrarei na longa querela que envolve os autores assim chamados “Pré-socráticos”, cujos textos nos chegaram após irrastreável percurso histórico, em terceira, quarta, quinta mão (aliás, não temos “fragmentos” de textos desses autores. O termo é impróprio: temos tão-somente “citações” de fontes posteriores, em não raros casos, bem posteriores!).
Permitam-me restringir a abordagem, ainda que em tom introdutório e sintético, aos três grandes da era Clássica, alvos preferenciais de Huerta de Soto.
Sócrates, pelo que se sabe, nada escreveu. Optou por uma filosofia exclusivamente oral. Para conhecer o seu pensamento e avalia-lo de modo minimamente honesto (em especial no que diz respeito à sua importância ou repercussão no tempo) temos que recorrer a testemunhos de seus contemporâneos ou à doxografia (conjunto de textos que se referem a ele) complexos e de difícil acesso para quem não lê grego ou não conhece o mínimo de técnicas filológicas. Mesmo porque tais fontes discordam muitas vezes substancialmente entre si sobre determinados aspectos da filosofia socrática, em alguns casos até mesmo de modo radical, anulando-os uns aos outros. Estamos falando de referências tão plurais quanto Aristófanes (comediógrafo e primeiro autor a registrar por escrito impressão sobre Sócrates), Platão, Xenofonte, Aristóteles e mais um grupo assim denominado “socráticos menores” (dos quais nos chegou pouquíssimo).
Portanto, aventurar-se a falar de Sócrates e de colocar em sua boca determinadas posições não é coisa para amadores na técnica investigativa do mundo Antigo, tal como Huerta de Soto demonstra ser. Apenas um trabalho de confronto entre as fontes, extraindo o que nelas se encontra de substancialmente comum, nos autoriza a atribuir mensagem ao Sócrates histórico. Recortar parte de texto que parece se harmonizar com tese de fundo que pretende-se defender realmente não é coisa aceitável em boa ciência. E, sim, abordada com as ferramentas corretas, a filosofia socrática emerge com peso decisivo sobre o pensamento grego e, mais amplamente, sobre o mundo ocidental (certamente, no entanto, não pelos motivos aduzidos por de Soto);
Platão, por sua vez, escreveu muito e, caso único na Antiguidade Grega, todos os seus textos nos chegaram. No entanto, ele mesmo diz não ter escrito “tudo o que pensou”, em especial “as coisas maiores” ou “mais importantes” (ver o diálogo “Fedro” e o texto da “Carta VII”). Não entrarei em detalhes, mas escrevi muito sobre isso, com um motor de busca vocês encontrarão diversos textos sobre. Mas sim, caro leitor, o fato de termos tudo o que ele escreveu não deve nos levar a afirmar, ingenuamente, que temos tudo o que pensou, basicamente porque ele mesmo afirma em sentido contrário. Em Platão há uma longa “tradição indireta” que ajuda a recompor a totalidade da sua Filosofia. Não uma parte acessória ou secundária dela, mas o cerne, a essência, a base de sustentação. A este elemento, registrado em documentos de discípulos (e, por isso, em parte recuperável), que Platão preferiu deixar apenas para lições orais, Huerta de Soto e outros do movimento liberal/conservador/libertário sequer fazem referência, num total desconhecimento de elementos interpretativos do Filósofo que hoje são cotidianos e mesmo banais em qualquer interpretação que se queira séria. E mais: Platão escreve ficções filosóficas. Seus textos não são tratados de Filosofia como outros tantos que conhecemos na modernidade/contemporaneidade (por isso disse acima: não se deve lê-lo como a um Kant ou outro mais próximo de nós na forma e no tempo).
Seus diálogos são peças filosóficas de teatro, pensadas para estabelecer dois tipos dialéticos: 1) o que se constrói entre os personagens; 2) o que, então, se estabelecerá com o leitor.
O que o intérprete ingênuo, como de Soto, costuma fazer é o mais confortável: atribuir todas as teses trabalhadas nos diálogos como “teses platônicas”, sem qualquer mediação necessária sobre qual personagem a defende no contexto da obra e segundo qual contexto exegético. Sim, ler Platão não é passatempo de fim de semana. E, para criticá-lo, é preciso bem mais do que simples acesso físico aos textos.
Depois, a convicção de que Platão é um autor estranho, capaz de ações às vezes inexplicáveis, determina, com frequência, um efeito cientificamente pouco admissível: diante dos passos mais evidentemente contraditórios, difíceis ou lacunares dos diálogos escritos, pratica-se a remoção forçada de passagens, quando não se chegam a afirmações desconcertantes do tipo: “Aqui Platão evidentemente se esqueceu o que disse…na página precedente”. De fato, como é sabido, o eixo de sustentação da teoria platônica da comunicação filosófica se baseia na tese segundo a qual o autor do discurso deve conhecer a alma à qual se dirige para que possa harmonizar a complexidade do argumento tratado à capacidade de apreensão da alma do interlocutor, isto é, de apresentar às almas simples os aspectos menos complexos do problema e, ao contrário, apresentar às almas mais capazes tanto o conjunto das dificuldades derivadas do problema quanto os aspectos mais delicados da sua solução (Fedro, 277 b 5 – c 3).
Além disso, tal como o concebe Platão, o diálogo escrito é uma “imagem” (eídolon) do seu correspondente construído na dimensão da oralidade, isto é, uma cópia de natureza inferior que encontra na dialética não-escrita – “melhor e mais potente” (ameínon kaì dynatóteros) do que a outra da qual é, por assim dizer, o original – o seu modelo inspirador. Não por outro motivo, isto quer dizer que a forma dialógica escrita – enquanto modelo fictício e não espontâneo do fazer filosofia – traz consigo uma força doutrinária reguladora determinante para a sua impostação, na medida em que é conduzida no interior de um aparato didático-comunicativo amplamente anunciado pelo próprio autor (insisto, parte conclusiva do Fedro e excursus filosófico da Carta VII).
Sim, Platão fará Sócrates (personagem central da maior parte dos seus diálogos) dizer e fará emergir do deuteragonista (personagem que dialoga com Sócrates) apenas aquelas coisas que a alma do deuteragonista escolhido no drama do diálogo torna estruturalmente possível. Portanto, em muitos diálogos, Platão omitirá exatamente aquelas coisas que quem se coloca fora do seu horizonte esperaria ou desejaria, pois o argumento tratado as requereria em si e por si, e que ele, ao invés, não apresenta, exatamente porque segue constantemente aquele traçado que a dimensão da alma do personagem escolhido como deuteragonista impõe.
Acordemos! Estamos diante de uma espécie de reticência pedagógica que se manifesta inclusive na ausência de um completo tratado de determinados temas sensíveis. Nós, filhos da moderna exigência do escrito “completo”, “terminado” e o mais possível “claro”, devemos operar, se queremos ler o Filósofo, a supressão de algumas de nossas categorias mentais, também elas, filhas do nosso tempo. De fato, “hoje apressamo-nos a publicizar, o quanto antes e ao maior número possível de pessoas, qualquer coisa que pensamos ter descoberto. As razões que nos levam a fazê-lo podem ser múltiplas. Em geral, domina o espírito do liberalismo pluralístico hodierno, que nos leva à concorrência aberta. Normalmente, já a preocupação com a carreira e o receio de ser superado por outros constituem motivos que nos levam a comunicar em cada modo possível o que obtivemos”.[1]
Aqui está o problema: tendemos naturalmente a julgar o passado de acordo com as nossas experiências e convicções, sem as devidas e necessárias mediações/precauções culturais, sociais e educativas típicas de outros momentos históricos que de alguma forma deveriam condicionar fortemente nossa abordagem hermenêutica.
Parece-nos, por exemplo, sobremaneira incompreensível a limitação da comunicação filosófica livremente desejada, o jogo da escritura que prefere manter velado isto que parece ser essencial, o passo de omissão deliberado, a aporia literária diante de uma rede de elementos estruturais anteriormente anunciados, facilmente capazes de eliminá-la. Entre outras coisas, ao que parece, é necessário ter em mente que o texto platônico quer reproduzir, nos limites impostos pela própria natureza do escrito, a tensão real de pergunta e resposta que há no diálogo vivido, isto é, tal como desenvolvido na comunicação oral.
É enquanto reprodução, todavia, que o diálogo escrito torna-se, em âmbito preciso de situações bem determinadas nas quais personagens escolhidos conversam entre si, instrumento de diálogo com o leitor. Este diálogo “texto-leitor”, no entanto, nunca é (ou quase nunca é) completamente transparente, como gostaríamos. Platão se vale do seu extraordinário talento artístico para operar um tipo de literatura que de alguma forma seleciona os leitores de acordo com a sua capacidade de interagir, mais superficialmente ou mais profundamente, com o que diz o texto (uma espécie de recurso técnico que, na ausência do “pai-autor”, tenta “defender”, tanto quanto possível, a doutrina do filósofo de incompreensões e de leituras incapazes de fazer-lhe justiça).
Platão, porém, não abandona o seu leitor à própria sorte: provoca-o, mas fornece também os instrumentos que considera fundamentais ao trabalho imposto. O aspecto teatrográfico do texto é um desses instrumentos de apoio ao leitor que, em vez de acumular informações (tornando-se um i, mero portador de opiniões alheias), quer fazer Filosofia.
De fato:
Não devemos colocar-nos apenas o problema de entender o que os personagens estão fazendo no diálogo, qual é o conteúdo teórico que se está desenvolvendo diante dos nossos olhos, mas é preciso “colher” o que Platão, com a invenção do diálogo, isto é, com os instrumentos teóricos e dramatúrgicos que ele livremente cria, está dizendo (…).
Trata-se de não seguir apenas o diálogo interno, mas de assumir uma condição filosófica, capaz de aceitar o tipo de diálogo que o texto impõe, para chegar ao coração da provocação teorética construída por Platão.[2]
Antes de ler crítica a Platão (ou a qualquer filósofo Antigo) é preciso se perguntar: tais pressupostos básicos, anunciados pelos próprios filósofos, foram levados em consideração? No caso do texto de Huerta de Soto, longe disso. Mas ele não está sozinho em engano dessa natureza.
Aristóteles: bem, quanto ao nosso Filósofo de Estagira, basta dizer que tudo o que escreveu para ser publicado (textos “exotéricos”) não chegou aos nosso dias. O que temos são anotações (textos “esotéricos”) de um professor, proprietário de uma Escola chamada Liceu. Novamente: abordar o corpus escrito como quem lê um texto de Hayek ou de Rand é simplesmente desastroso. E o texto de Huerta de Soto é a prova concreta disso.
Sobre o infausto texto de Huerta de Soto
O autor do artigo que me trouxe até aqui começa bastante bem seu percurso argumentativo:
Infelizmente, os pensadores gregos não foram capazes de compreender corretamente os princípios essenciais sobre o que é uma ordem espontânea de mercado e nem o processo dinâmico de cooperação social que abrange esses princípios.
Tem razão de Soto! E o motivo ele mesmo registra no parágrafo supracitado: seria um contrassenso extraordinário exigir de um Homem do V ou do IV séc. a.C um dado de realidade que depende exatamente de “ordem espontânea”, cujos pressupostos históricos, portanto, estavam longe de ser disponíveis aos espíritos daquele tempo.
Isso, claro, poderia ter acontecido pontualmente, mas muito mais como um “acidente argumentativo” ou intuição arbitrária, dificilmente como construção intelectual meditada. “Acusar” um Antigo neste sentido equivale a dizer que Aristóteles merece o nosso desprezo por ter defendido a escravidão, num momento em que isso era tão comum quanto ter um smartphone hoje em dia. É simplesmente desonesto e anacrônico. Ato contínuo, de Soto cai ingenuamente no canto da sereia de alegação em tudo estranha:
é necessário também reconhecermos que os gregos fracassaram miseravelmente ao não verem a necessidade do desenvolvimento de uma disciplina, a ciência econômica, dedicada ao estudo do processo espontâneo de cooperação social que forma o mercado.
Difícil qualificar a infelicidade do comentário. Em primeiro lugar, por um motivo que fala por si: não se pode evocar uma economia em sentido unívoco quando referido ao mundo Grego Antigo, composto, do período Micênico ao Clássico, por uma infinidade de aldeias, cidades (“poleis”), microrregiões completamente autônomas e, em não raros casos, geograficamente quase isoladas.
Há uma enorme diatribe sobre este tema, ancorada muito mais em paixões subjetivas – que, de seu lado, de Soto representa muito bem – do que em documentos concretos (que, a despeito dos esforços da arqueologia, continuam a faltar em grande medida). Os conjuntos das experiências econômicas na Antiga Grécia são tão plurais quanto o são as cidades-Estado na qual foram desenvolvidas; experiências, diga-se de passagem, que apontam, aqui e ali, para tentativas por vezes diametralmente opostas, enquanto portadoras de respostas concretas a necessidades e exigências em contextos helênicos muito diversos entre si.
Os estudiosos do tema, de fato, talvez estimulados por uma torpe competição sobre quem projeta melhor um sistema ficcional na ausência de documentos seguros, se dividiram entre os assim chamados “primitivistas”, que consideram a economia grega pouco mais do que um decalque de sociedades menos evoluídas, distantes da contemporânea consideração sobre processos econômicos, e os “modernos”, que, pelo contrário, reconhecem traços de uma incisiva presença da ciência econômica na história grega, mesmo segundo parâmetros hodiernos. Posições que se anulam e que evidenciam o precário estado das fontes (o que, então, parece sugerir prudência a estudioso ante qualquer impulso que o leve a afirmações fortes relativos ao tema).
Não obstante isso, uma longa fortuna bibliográfica e arqueológica atesta, com força inconteste, que o livre comércio estabelecido entre Atenas e as colônias, a talassocracia grega, o ímpeto racionalizante da vida em sociedade, o estabelecimento entre a coisa pública e a coisa privada foram fatores decisivos mesmo para o nascimento da Filosofia (antes tida como uma espécie de “milagre” por tantos estudiosos) e para a afirmação de uma “Helenocracia” junto ao Mar Egeu/Magna Grécia e não só.
Os Gregos, ademais, levaram o uso da moeda a patamares novos na história humana, item material de valor abstrato que permitiu a construção de uma mentalidade científica, abstracional, da qual somos devedores eternos. A ciência econômica foi tema de obras não apenas entre pensadores do período Clássico, mas mesmo de uma Grécia Arcaica, pré-filosófica, como atestam variadas referências cruzadas.[3]
O fato de parecerem “insuficientes” (em termos de conteúdo) aos olhos do pesquisador moderno atesta muito mais o anacronismo do método e da perspectiva do que um “miserável fracasso” daquele povo ao lidar com tema caro também a eles. Como alguém pode avançar dessa maneira desastrada sobre uma longa tradição de ciência – aquela possível no tempo, com termos que ainda se revelam paulatinamente aos olhos dos estudiosos – sem qualquer cuidado ou prudência? Não faltaria mesmo mais nada, desejar, como um viajante do tempo, que Heráclito e seus coetâneos evocassem elementos de macroeconomia e de praxeologia criados no séc. XX. Sim, Aristóteles é com frequência considerado como ponto de partida de um discurso sobre economia no Mundo Antigo. No entanto, representa, antes, por diversos aspectos, o ponto de chegada de uma longa reflexão sobre o tema, cuja origem remete a Homero.
Mas a coisa toda piora, com um parágrafo que mereceria repousar no fundo do cipoal destinado a impropérios exegéticos:
O que é ainda pior é que, quando os primeiros intelectuais surgiram, surgiram também a simbiose e a cumplicidade entre pensadores e governantes. Desde o início, a grande maioria dos intelectuais abraçou o estatismo e sistematicamente subestimou, e até mesmo criticou e denegriu, a sociedade do comércio, das trocas voluntárias e do trabalho qualificado que prosperava ao redor deles.
Simbiose e cumplicidade entre pensadores e governantes? Na Antiguidade? Mas isso é lição propedêutica de qualquer opúsculo de História da Filosofia Antiga: de Parmênides, Heráclito (que preferia a vida na caverna, na companhia de crianças, à vida na cidade), Pitágoras (fundador de escola esotérica cujo preceito fundamental era o de não divulgar a indivíduos de fora dela os conhecimentos cultivados intramuros), passando por Sócrates (que morreu exatamente por se opor a práticas políticas de Atenas, a “pólis” grega por excelência), Platão (que foi vendido como escravo em passagem por Siracusa por não aceitar ser submetido a desígnios de um rei desastrado e que, ademais, deixou a vida política para se dedicar à filosofia em franca oposição às práticas governamentais do seu tempo) até Aristóteles, que fugiu para que, em referência a Sócrates, não o matassem (no que teria sido, em suas próprias palavras, “o segundo grande crime contra a Filosofia”), não há traço de “simbiose e cumplicidade” que determinasse rumos de investigação filosófica. De onde Huerta de Soto tira tais informações resta uma incógnita.
Bem, após esse impulso retórico, construído sem qualquer respaldo na realidade documental, de Soto volta aos trilhos do bom-senso e, num, movimento de benevolente (ainda que momentâneo) reconhecimento, cita, num aparente paradoxo com as generalizadas afirmações que acabara de fazer, diversos exemplos de intuição ajustada de boa economia liberal – como soa estranho usar tais termos na boca dos primeiros Filósofos! – em autores do Mundo Antigo: Hesíodo, Demócrito, Protágoras, Tucídides, Demóstenes, Xenofonte. Mas isso, claro, para depois voltar à carga contra a grande tríade: Sócrates, Platão e Aristóteles.
Em suas palavras:
O filósofo Sócrates serve de ilustração paradigmática desta oposição intelectual a qualquer coisa que envolva o lucro empreendedorial, a indústria ou o mercado. Vale observar o tom arrogante e a falsa modéstia demonstrada por Sócrates em seu discurso de defesa perante o júri que o condenava, um discurso registrado por Platão. Não há nenhuma dúvida de que Sócrates exerceu uma influência negativa sobre a juventude da cidade de Atenas, quem ele atraiu ao ridicularizar o trabalho de toda uma vida de seus pais, que abnegadamente dedicaram seus esforços diários e honestos às áreas do comércio, do artesanato e do mercado em geral.
Causa espécie que alguém letrado se refira a Sócrates, “um apóstolo da liberdade moral, separado de todo dogma e de toda tradição, sem outro governo além daquele da sua própria pessoa e obediente apenas aos ditames da voz interior da sua consciência”[4], em termos assim enviesados. Trata-se de querer compreender o Filósofo segundo ferramental interpretativo simplista, completamente desenraizado do seu tempo, forçando-o para fora do meio concreto no qual viveu.
Estamos diante de um pensador para o qual a razão de ser (ou de existir) de cada um de nós é, antes de tudo (mas jamais exclusivamente), um “cuidar da alma”. Com enorme frequência Sócrates evoca metáforas médicas, associando-as a um cuidado voltado para a psychè. E isso, numa abordagem que contempla tanto aspectos de vida cotidiana quanto preocupações metafísicas, está exatamente no texto citado por de Soto, tão mal compreendido por ele (Apologia de Sócrates).
Em seu pensar binário, no entanto, de Soto imagina que, por distinguir alma tão bem do corpo quanto dos bens materiais, Sócrates sinta-se obrigado a tratar como coisa desprezível o bem estar material dos indivíduos (segundo um cálculo em nada razoável, no interior do qual não há gradações de importância, só o aceitar ou o negar por completo). Xenofonte, autor de texto que também registra importantes aspectos de reconstrução do Sócrates histórico, aliás, nos mostra em que medida o Filósofo discutia em profusão com seus discípulos sobre temas de técnica política (de boa condução da “pólis”), sobre as diferentes constituições, leis, administrações públicas e, então, pasmem (para de Soto), economia. Um homem, além disso, que se vale exatamente da profissão da mãe, a parteira Fenarete, para, no modo como Platão o vê, caracterizar o seu modo de agir, a sua tarefa obsessiva sobre a terra: um parteiro de almas (enquanto que não há qualquer referência segura sobre Sofronisco, que teria sido seu pai, ou sobre a relação existente entre os dois). Fazer de Sócrates um filho ingrato ou que tenha tratado os pais com desprezo é, também isso, fruto da vívida criatividade de Huerta de Soto.[5]
E, continua de Soto, em seu ataque a-histórico, documentado na força de sua imaginação:
O que é ainda pior é que a estatolatria de Sócrates era tão obsessiva que o levou a confundir as leis oficiais instituídas pela cidade-estado com as leis naturais. Ele acreditava que as pessoas deveriam obedecer a todas as leis oficiais estatuídas pelo governo, mesmo que elas fossem contra naturam. E foi assim que ele criou as fundações filosóficas para o positivismo jurídico. Todos os tipos de tirania surgidas na história após Sócrates se basearam no positivismo jurídico.
E Huerta de Soto avança:
Em suma, do ponto de vista da teoria científica dos processos de mercado, a influência de Sócrates foi definitivamente desastrosa. Foi ele quem iniciou e promoveu a tradição anticapitalista dos intelectuais. Ele demonstrou ter uma total falta de compreensão a respeito da ordem espontânea do mercado, a qual era exatamente a fonte da prosperidade ateniense que permitia a Sócrates e ao resto dos filósofos de sua escola o luxo de não ter de trabalhar e, consequentemente, de poder se dedicar integralmente à filosofia. E em troca deste ambiente de relativa liberdade e prosperidade, Atenas recebia de Sócrates apenas desprezo e incompreensão.
É o exato oposto! Sócrates se nega a fugir da cela na qual espera a pena capital para evidenciar a todos, em tom universal de advertência, que a natureza deletéria de leis estatais mal concebidas resultam em graves injustiças, tal como a sua morte! Essa é a essência da narrativa da “Apologia” citada por de Soto, escrita por um discípulo dedicado como Platão: essência que ele, de Soto, resolve ignorar por não se harmonizar com a leitura que deseja, contra toda a fortuna crítica disponível (parte dela construída imediatamente após a morte de Sócrates), fazer do Filósofo ateniense.
Aliás, Sócrates foi perseguido pelos dois grandes regimes políticos do seu tempo, a democracia e a oligarquia; e isso por idêntica razão, qual seja, jamais hesitar em expor de modo aberto e não mediado os desvios de um e de outro. Sócrates encarnou o papel de mestre de bons homens da pólis e, sim, o seu horizonte sempre foi a pólis, a coisa pública (motivo pelo qual tantos o secundavam em seus processos formativos). Imputar a ele a criação do positivismo jurídico é um despropósito total, uma alegação em completa desconformidade com a revolução não-violenta operada pelo filósofo, sempre por meio da persuasão sejam em âmbito restrito, de cada homem que com ele se dispunha a dialogar, seja em âmbito estatal.
Não contente em desfigurar toda a doxografia mais séria dedicada a Sócrates (para não citar os documentos primários que tratam de seu pensamento), o autor do texto agora cria uma nova categoria conceitual: a não concordância de um filósofo com algo que ele sequer poderia conhecer, atribuindo a Sócrates a “promoção” da “tradição anticapitalista” dos intelectuais e “falta de compreensão” da “ordem espontânea do mercado”.
Ora, a tensão metafísica da filosofia socrática tem em seu horizonte a pólis grega e, mais especificamente, a pólis ateniense. Não resta dúvida, em qualquer das fontes que registrem eixo de sustentação da especulação de Sócrates, que a sua ação tendesse, por meio desse cuidado “com a alma”, com o conhecimento seguro/epistêmico das virtudes humanas, à formação de homens que pudessem, da melhor forma possível, se ocupar com as coisas públicas. Portanto, não estamos diante de uma realidade “ou…ou…”, como deseja de Soto, mas de “e…e…”, vale dizer: sim, Sócrates está em busca de homens moralmente superiores E (e não OU), então, de homens que, ao se aplicarem ao que há de maior em cada um de nós, faça derivar ações que trarão implicações benéficas na vida política e econômica da pólis.
O embate de Sócrates jamais se realiza na negação do bem-estar material, mas na oposição ao homem dissoluto, imprudente, voraz, que busca conforto material como um animal domado pelas inclinações (um hedonismo desenfreado). Está em jogo, portanto, um conceito caro aos Gregos e que está presente mesmo em máximas dos Sete Sábios: o do justo meio, o da virtude da mediania, o do “nada em demasia”. Tomar tal princípio a fortiori como “anticapitalista” ou afastado de processos de mercado não é apenas uma conclusão obtusa ou inexata (pelos motivos expostos): é basicamente extravagante (o homem chega a dizer que “ele [Sócrates] também procurou utilizar sua morte para dar legitimidade à veneração de um estatismo opressivo e, ao mesmo tempo, levar má reputação ao individualismo liberal-clássico”!).
Sócrates é o filósofo do enkráteia, do domínio de si nos estados de prazer e dor, nas fadigas, na urgência dos impulsos e das paixões. Numa palavra, é o pensador que busca a determinação do domínio sobre a própria animalidade. Isso, para ele é liberdade em máximo grau (como, então, poderia ser “defensor de estatismo opressivo”, por Zeus!). Sócrates expressamente identificou a liberdade com enkráteia, com o domínio das paixões subjetivas, ultrapassando assim os limites jurídicos e políticos que o termo liberdade (eleutheria) possuía até então, de domínio da razão sobre outros elementos de subjetividade. Quem se abandona à absoluta e não mediada satisfação dos desejos e impulsos está condenado a depender das coisas, dos homens e da sociedade: não se perder em desejos incontrolados é liberdade, tranquilidade e felicidade. Onde, de tal quadro, extrair ataque à reputação de um “individualismo liberal-clássico” de 2.500 anos atrás? Surreal.
Claro que, desferido o ataque a Sócrates, todo os resto fica mais fácil: ao menos assim pensa de Soto:
Com um professor como Sócrates, não é surpresa alguma que Platão tenha intensificado os erros de seu mestre. Platão forneceu uma extremamente perigosa justificativa filosófica para o mais desumano estatismo, a qual foi direta ou indiretamente absorvida por todos os tiranos que vieram a oprimir a humanidade desde então.
E ainda,
Típicos de Platão eram seus ataques à propriedade privada, sua louvação à propriedade comunal, seu desprezo pela instituição da família tradicional, seu pervertido conceito de justiça, sua estatista e nominalista teoria do dinheiro e, em suma, sua exortação dos ideais do estado totalitário de Esparta. Todas estas são características típicas do intelectual que se acredita superior e mais sábio do que todo o resto da humanidade, mas que, não obstante, é ignorante em relação a até mesmo os mais essenciais princípios da ordem espontânea do mercado, a qual torna possível a civilização.
Huerta de Soto, sem qualquer surpresa, evoca aqui teses sobremaneira equivocadas, partejadas antes dele por autores que citei acima, mas, em especial, por Popper. Refiro-me aos problemas exegéticos que decorrem de um reconhecimento de natureza exclusivamente política no discurso do diálogo “A República” de Platão, mas tensionados por categorias psicológico-constitutivas da moderna versão dela (da política…o velho problema do anacronismo e da abordagem teorética) como cânones interpretativos. Essas leituras “popperianas” cometem um erro radical, enquanto consideram que “Estado” e “política” possam contemplar tão-somente o arcabouço semântico que têm atualmente (colocando, assim, em crise artificialmente criada, toda a natureza do discurso platônico).
Falou-se já de um “comunismo” ou de um “socialismo” platônico (em todo caso, de um “estatismo”, como vimos acima) diante da tese segundo a qual o Filósofo defende em sua utopia o compartilhamento irrestrito de bens entre os membro de sua comunidade projetada. Para além disso, não faltaram intérpretes que, sobretudo na Alemanha, buscaram na República traços próprios do nazismo. Naturalmente, diante de tal quadro, Popper lerá a concepção de Estado de Platão não apenas como conservadora e reacionária, mas como totalitária (teria sido Platão, na visão de Popper, aqui compartilhada por Huerta de Soto, um grande inimigo da “sociedade aberta”, ao lado de figuras como Marx e Hegel, vale dizer, de uma sociedade ancorada na livre escolha dos indivíduos, na possibilidade de uma construção sem amarras de futuro e prosperidade).
Assim, seria o Estado platônico a própria encarnação da negação da liberdade. Sem dúvida, lido à luz do aparato hermenêutico moderno, descolado do seu momento histórico de origem e de sua mais ínsita razão de ser, o texto pode ser lido a favor de tudo e do contrário de tudo, da Direita ou da Esquerda, “socialista”, “comunista”, “totalitária”, “nazista”. Um erro banal, mas grave em seus efeitos.
A construção da “Politeia” platônica, do seu Estado Ideal, repousa em pressuposto anunciado já no livro II da “República”. Em busca do que seja a justiça, Platão, pela boca do personagem Sócrates, propõe um escamotage na abordagem: passar, no curso da investigação, de um plano reduzido, restrito ao homem, a um plano maior, da cidade, no qual poder-se-ia tratar do tema em “letras maiores”, numa escala “mais ampla”:
_ Vou dizer-to, respondi. Diremos que a justiça é de um só indivíduo ou que é também de toda a cidade?
_ Também o é, replicou.
_ Logo, a cidade é maior do que o indivíduo?
_ É maior.
_ Portanto, talvez exista uma justiça numa escala mais ampla, e mais fácil de apreender. Se quiserdes, então, investigaremos primeiro qual a sua natureza nas cidades. Quando tivermos feito essa indagação, executá-la-emos em relação ao indivíduo, observando a semelhança com o maior na forma do menor. (A República, 369a)
Eis, então, que:
Portanto, a perspectiva correta da leitura da República, uma vez desimpedido o terreno dos equívocos, permanece a indicada: Platão quer conhecer e formar o Estado perfeito para conhecer e formar o homem perfeito.
O homem é a sua alma, dissera Sócrates. E Platão reforça essa afirmação não somente nos diálogos “místicos”, mas exatamente na República, onde a leva às últimas consequências: o Estado é a alma ampliada, e veremos estabelecer-se entre a alma e o Estado essa correlação recíproca. Se é verdade que o Estado é uma projeção ampliada da alma, não menos verdade é que, finalmente, a sede autêntica do verdadeiro Estado e da verdadeira política é justamente a alma, e a verdadeira cidade é a cidade interior, que não está fora, mas dentro do homem.[6]
Em suma
Huerta de Soto demonstra uma indesculpável ignorância sobre a arquitetônica compositiva da República e da filosofia platônica como um todo, optando pelo caminho mais fácil de uma leitura “escolar” da obra, da qual se extrai, como disse acima, tudo e o contrário de tudo, em função dos desejos subjetivos do leitor. O Estado pensado por Platão é a projeção ampliada de um homem metafísico e, então, só se aplica ao mundo dos fenômenos de modo muito específico e limitado ou, para não sairmos do vocabulário próprio do Filósofo, “na medida das possibilidades humanas”.
Huerta de Soto fala de um Platão que não existe em documentação cientificamente válida, ao colocar como “querer” do pensador ateniense algo que estava muito distante do seu escopo:
Em suma, com Platão, aquele ideal intelectual do cientista arrogante que tenta se tornar um “engenheiro social” para moldar a sociedade a seu bel-prazer ganhou aceitação. Esta abordagem foi ainda mais reforçada pela escola do matemático Pitágoras, que acreditava que a virtude podia ser encontrada na “igualdade” e no “equilíbrio” que ele continuamente observava em suas fórmulas e em seus princípios matemáticos, os quais ele sentia que deveriam ser extrapolados para toda a sociedade.
Bem, não parece ser o caso de avançar com análise sobre concepções em tudo descoladas do razoável, mesmo no âmbito saudável da divergência acadêmica. De fato, estamos a lidar com ficção, com pura doxa historicamente consolidada desde Popper, que, de Platão, nada sabia.
Nada a fazer, por fim, a não ser compartilhar a célebre opinião registrada em troca epistolar entre Leo Strauss e Eric Voegelin exatamente sobre os impropérios de Karl Popper nesse particular, critica que, pessoalmente, desejo estender ao ensaio de Huerta de Soto sobre o Mundo Antigo e, particularmente, sobre Platão.
Leo Strauss:
Gostaria de pedir-lhe que, quando estiver livre, me responda o que acha do Sr. Popper. Ele palestrou por aqui sobre os objetivos da filosofia social, que é comumente desprezada; e foi um desbotado e descarado positivismo colocando sua cabeça para fora da cova[1], ligado a uma completa incapacidade de pensar ‘racionalmente” embora venda-se aos incautos como racionalismo – foi horrível. Não consigo me imaginar lendo-o, mas, no entanto, parece ser nosso dever profissional estarmos familiarizados com suas produções. Poderia me dizer algo sobre – e se o desejar, guardarei a resposta para mim.
Eric Voegelin:
Prezado Sr. Strauss, a oportunidade de dizer algumas poucas, porém profundas palavras sobre Karl Popper a uma alma tão querida é algo que deve ser feito sem demora. Esse Popper foi por anos não exatamente uma pedra no meu sapato, mas um irritante cascalho que precisa ser a todo momento chutado para fora do caminho, pois algumas pessoas insistem em colocá-lo na minha frente constantemente como se “A Sociedade Aberta e Seus Inimigos fosse alguma obra prima da ciência social de nossa era. Essa insistência me convenceu a ler obra, que em outras circunstâncias permaneceria intocada. E você está certíssimo em dizer que é nosso dever estarmos familiarizados com as obras de nosso campo de estudo; mas contra esse dever há outro: o de não escrever ou publicar tal obra. Em sua obra, Popper violou esse dever profissional [de não publicar tal obra] básico e me roubou muitas horas de vida que foram dedicadas ao dever profissional [de estar atualizado] de forma que me sinto justificado em dizer sem reservas que esse livro é uma porcaria sem vergonha e impudente. Cada um de seus períodos é escandaloso e é possível destacar algumas de suas pérolas.
As expressões “Sociedade Aberta” e “Sociedade Fechada” foram retiradas do As Duas Fontes da Moral e da Religião do Henri Bergson. E sem explicar os pormenores de Bergson na criação destes conceitos, Popper os tomou para si por “soarem bonitinhos”, mas comenta de passagem que Bergson dava a eles um “sentido religioso”, mas que ele usaria o conceito de sociedade aberta com um sentido próximo do de “Grande Sociedade” do Graham Wallam ou do de Walter Lippman. Talvez eu seja sensível demais a essas coisas, mas eu não creio que filósofos sérios como Bergson desenvolvam conceitos como a intenção de que estes sejam deturpados a fim de que a escória do bar da esquina tenha algo para conversar sobre.[2] Isso nos traz o notório problema de que, se a teoria da sociedade aberta de Bergson for historicamente defensável (e de fato acredito que o seja), a de Popper não passa de lixo ideológico.
O impertinente desrespeito com os méritos de sua e com os problemas de sua área de pesquisa — que é muito presente em Bergson — é onipresente na obra. Quando lemos considerações acerca de Platão ou Hegel, temos a impressão de que Popper não está familiarizado com a bibliografia do assunto — embora ele ocasionalmente cite um ou outro autor. Em alguns casos, como por exemplo o de Hegel, tendo a acreditar que ele nunca viu uma obra como Hegel e o Estado de Rosenweig. Em outros casos, ele cita obras sem parecer ter entendido seu conteúdo, e ainda tem mais.
Popper é filosoficamente tão inculto, tão completa e intratavelmente um ideólogo tosco, que não consegue sequer reproduzir corretamente o conteúdo de uma única página de Platão. Ler é algo dispensável para ele; ele é muito limitado intelectualmente para entender o que o autor diz. Disso surgem terríveis erros, como quando traduz o “Mundo germânico” de Hegel como “Mundo alemão” e desse erro de tradução tira conclusões sobre a propaganda nacionalista de Hegel.
Popper não se empenha na análise textual pela qual poderia se saber qual é a intenção de um autor; em vez disso, ele transpõe clichês ideológicos modernos nos seus escritos, esperando que o texto traga os resultados junto ao entendimento do sentido dos clichês. Seria especialmente prazeroso para você ler que, por exemplo, Platão passou por uma evolução, partindo de um período “humanitário” ainda reconhecível no Górgias, para algo (não consigo mais lembrar se ele disse “reacionário” ou “autoritário”) na República.
_________________________________________
Referências
[1] Th.A. Szlezák. Platone e la scrittura della filosofia. Milano: Vita e Pensiero, 1992, p. 45.
[2] M. Migliori (intervento), Platone tra oralità e scrittura: Un dialogo di Hans-Georg Gadamer con la Scuola di Tubinga e Milano e altri studiosi. Bologna: Tascabili Bompiani, 2001, pp. 42-43.
[3] Cfr. VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro, 1996, passim.
[4] JAEGER, W. Paideia: A formação do Homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 493.
[5] Sobre o Sócrates “parteiro”, remeto o leitor ao meu livro: XAVIER, Dennys G. Com Sócrates Para Além de Sócrates. O Teeteto Como Exemplo de Teatro Filosófico. São Paulo: Ed. Annablume, 2014.
[6] REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga, Vol. II. São Paulo: Loyola, 1994, p. 243.
Fonte: Mises Brasil