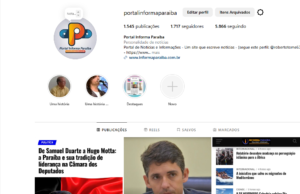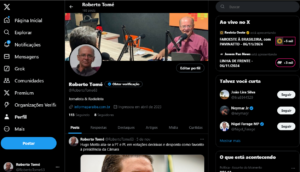Judiciário
Quando o STF foi chamado a dizer quem era vice-presidente da República
Com a morte do primeiro colocado na disputa pela Vice-Presidência da República, deveria haver novas eleições?

Este é um daqueles casos em que o Supremo é provocado a interferir diretamente numa questão política sensível. Se aceita ou não o convite para interceder, vai do momento, da conjuntura e da decisão dos seus integrantes. Em 1922, o caso foi considerado dos mais sensíveis até então na história ainda curta do STF. O tribunal foi chamado a dizer quem era o vice-presidente da República.
A décima eleição presidencial da nossa história terminou com a vitória de Arthur Bernardes, derrotando Nilo Peçanha com uma diferença de aproximadamente 150 mil votos. Na época, os eleitores também escolhiam, em votação separada, o vice-presidente. Disputaram a vice os candidatos Urbano Santos – que foi vice-presidente no governo Venceslau Brás – e José Joaquim Seabra – político e jurista.
A apuração do resultado era feita pelo Congresso Nacional. A Justiça Eleitoral só seria criada na década seguinte. Entre a votação pelos eleitores e a promulgação do resultado pelo Congresso, morreu o candidato Urbano Santos. Ele havia obtido o maior número de votos – 447.595 contra 330.520 de Seabra. Diante do fato, o Congresso decidiu que uma nova eleição – apenas para o cargo de vice-presidente – deveria ser feita.
Contra essa decisão do parlamento e, apesar da derrota na urna, o advogado Arlindo Leôni impetrou um habeas corpus na Justiça Federal do Distrito Federal, alegando que, com a morte do primeiro colocado, seus votos deveriam ser anulados, só havendo uma possibilidade: a vitória do segundo colocado, J.J. Seabra.
Otávio Kelly, então juiz federal – chegaria ao Supremo em 1934 -, concedeu a ordem, sob o argumento de que o processo eleitoral só se conclui com a apuração dos votos e proclamação do resultado pelo Congresso. Enquanto todo o procedimento não se encerrasse, os fatos que atingiam a capacidade do candidato ser ou não votado se equiparavam aos fatores de inelegibilidade. Assim, estando Urbano Santos morto e, obviamente, inelegível, o processo eleitoral terminava com a proclamação da eleição do segundo colocado, este sim elegível.
O procurador da República, Francisco de Andrade e Silva, recorreu ao Supremo. Ponderou que Seabra não teve os votos da maioria absoluta dos eleitores, como exigia o artigo 47 da Constituição vigente. Dar o cargo ao segundo colocado nas urnas era consagrar um imprevisto, um acaso que se sobreporia à escolha que a Constituição quis que dependesse da vontade da população.
O procurador argumentou também que a eleição não se concluía com o depósito do voto nas urnas. O que vinha depois era parte do processo. Não era meramente uma burocracia. Portanto, antes da proclamação do resultado pelo Congresso, Seabra não tinha direito algum. “Antes do reconhecimento [pelo Congresso], não já ninguém eleito, nem direito constituído. O paciente [Seabra] não tinha ainda o direito para que pedia a garantia constitucional: queria que o poder judiciário lho conferisse”, disse o procurador na sua sustentação.
O ministro Muniz Barreto, primeiro a votar como relator, concordou com o argumento do procurador ao dizer que a palavra “apuração” era integrada por três operações: a contagem e validade dos votos, a da elegibilidade dos votados e a do reconhecimento e proclamação do eleito. Portanto, o processo não se esgotava com os votos nas urnas.
Também não caberia, na visão do ministro, a concessão de uma ordem de habeas corpus, por J.J.Seabra continuava a dispor de todos os seus direitos, não estando em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.
Em conclusão, o ministro considerou imprópria a intervenção do Poder Judiciário na disputa. “O que o impetrante queria era que se lhe assegurasse o exercício de uma função essencialmente política, que o poder político competente, o Congresso Nacional, lhe não atribuía”, ponderou.
“Quem usurpa alheio poder, enfraquece o seu próprio”, concluiu Muniz Barreto.
O segundo a votar, acompanhando o relator, foi o ministro Viveiros de Castro. Disse o ministro que o caso era “indiscutivelmente” caso político, “meramente, unicamente, exclusivamente político”. Não cabia a intervenção do Judiciário interferir no debate e nem detinha o Supremo competência constitucional para investir um paciente no cargo de vice-presidente da República.