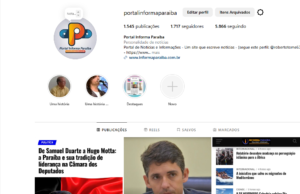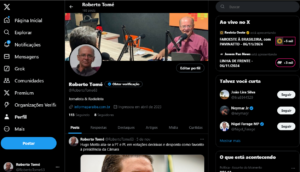Internacional
11 de Setembro e Pandemia de Covid-19: o mundo deixou mesmo de ser o que era?
Em menos de 20 anos, o mundo conhecido “acabou” duas vezes (as mesmas duas, aliás)
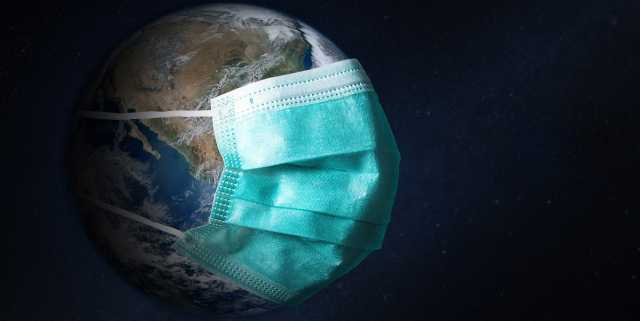
O 11 de Setembro de 2001 e a Pandemia de Covid-19 estão entre os grandes eventos da história da humanidade que levaram o mundo considerado até então “normal” a deixar de existir. E é particularmente chamativo que dois eventos de tamanha magnitude tenham acontecido num espaço de tempo tão breve na perspectiva histórica: em menos de 20 anos, o mundo conhecido “acabou” duas vezes.
Pelo menos é o que dizem
Desde 2002, quando se aproxima o dia 11 de setembro, tem sido comum que jornais, TVs e sites de notícias publiquem entrevistas com personalidades de diversas áreas sobre como elas experimentaram pessoalmente o 11 de Setembro – com S maiúsculo e sem necessidade de explicitar o ano, porque “aquele” dia 11 passou de data a nome próprio. Entre as declarações dessas personalidades da política, do jornalismo, das ciências, do entretenimento, abundam platitudes que, invariavelmente, se entrecruzam todo ano na solene sentença de que “o mundo que conhecíamos terminou para sempre”.
O mundo, com pouca margem para contestações, sofreu mesmo transformações profundas a partir do dia em que o terrorismo deixou de ser uma remota associação com regiões cronicamente instáveis do mundo para estrear no catálogo das novidades globalizadas. Não só a sombra dos atentados passou a pairar sobre Madri, Paris, Londres, Berlim, Bruxelas e um longo etécetera de cidades supostamente muito mais seguras do que Bagdá, Beirute, Tel Aviv e Mogadíscio, como os próprios atentados passaram a explodir de fato nas suas avenidas, pontes, cafés, estações ferroviárias, casas de espetáculos, mercados de natal e átrios de catedrais.
A chegada do inimigo invisível que convive em relativa quietude com os cidadãos comuns até o instante em que subitamente os mata mudou de modo radical as prioridades dos governos e acrescentou muitos asteriscos e parênteses aos rabiscos da retórica democrática. A alegada segurança de todos pareceu justificar o paradoxo de medidas tão draconianas quanto bem aceitas pela maioria, que, elevando o paradoxo à contradição, se proclamou profundamente preocupada com o risco de morte da democracia caso as autoridades não a tratassem com… autoritarismo. Enrijeceram-se assim os protocolos desde a aviação civil até os termos de uso das redes sociais e impuseram-se limites ao ir e vir tanto de um continente ao outro quanto da garagem ao térreo dos edifícios corporativos e residenciais.
Estes cenários foram sendo descritos e estes capítulos foram sendo contados, em tempo real, e às vezes surreal, por intermediários narrativos que se autorrotularam com todos os crachás disponíveis ou imagináveis nas redações, nas consultorias, nos gabinetes e nas “bios”: especialistas, peritos, analistas, consultores e comentaristas de todos os espectros ideológicos, cada um com seus óculos, binóculos e tapa-olhos, conscientes ou subconscientes. Uns esbravejando contra os exageros, outros lamentando as insuficiências e todos se acusando de mentirosos – o que, logicamente, acaba sendo verdadeiro pelo menos parcialmente em qualquer dos casos.
Qual é a diferença entre esse panorama descortinado pelo 11 de Setembro e o panorama que agora foi descortinado pelo coronavírus?
Basicamente, nenhuma
A chegada do inimigo invisível que convive em relativa quietude com os cidadãos comuns até o instante em que subitamente os mata mudou de modo radical as prioridades dos governos e acrescentou muitos asteriscos e parênteses aos rabiscos da retórica democrática. A alegada segurança de todos pareceu justificar o paradoxo de medidas tão draconianas quanto bem aceitas pela maioria, que, elevando o paradoxo à contradição, se proclamou profundamente preocupada com o risco de morte da democracia caso as autoridades não a tratassem com… autoritarismo. Enrijeceram-se assim os protocolos desde a aviação civil até os termos de uso das redes sociais e impuseram-se limites ao ir e vir tanto de um continente ao outro quanto da garagem ao térreo dos edifícios corporativos e residenciais.
Estes cenários foram sendo descritos e estes capítulos foram sendo contados, em tempo real e às vezes surreal, por intermediários narrativos que se autorrotularam com todos os crachás disponíveis ou imagináveis nas redações, nas consultorias, nos gabinetes e nas “bios”: especialistas, peritos, analistas, consultores e comentaristas de todos os espectros ideológicos, cada um com seus óculos, binóculos e tapa-olhos, conscientes ou subconscientes. Uns esbravejando contra os exageros, outros lamentando as insuficiências e todos se acusando de mentirosos – o que, logicamente, acaba sendo verdadeiro pelo menos parcialmente em qualquer dos casos.
E quanto ao mundo nunca mais voltar a ser o que era?
A cadeia de eventos desencadeada pelo 11 de Setembro coloca essa bravata na berlinda. Por um lado, o 11 de Setembro inaugurou um mundo certamente bem diferente do que tinha existido até a noite do dia 10. Por outro, após as muitas voltas que esse “mundo novo” deu ao redor de si mesmo, os desdobramentos do 11 de Setembro acabaram devolvendo a humanidade a um ponto muito semelhante ao de 2001, notoriamente em uma região do globo – que, por previsível ironia, é a que mais deveria ter mudado depois daquela data e por causa daquela data.
Os Estados Unidos e seus aliados justificaram a invasão do Afeganistão em 2001 como necessária para desbaratar a Al-Qaeda e prender Osama Bin Laden. Para isso, derrubaram o regime talibã – que esmagava o povo afegão já fazia cinco anos, mas que até então não escandalizava o “mundo civilizado” em grau suficiente para merecer reações mais efetivas do que arengas e lamentos. Passaram-se quase dez anos até que se afirmasse, em 2011, que Bin Laden tinha sido morto. Naturalmente, cada intermediário narrativo revendeu este infoproduto com os gatilhos mentais que reputou mais eficazes para melhor rankear a sua própria narração. Outros dez anos ainda se passariam até que os Estados Unidos e seus aliados saíssem do Afeganistão – por justos e bem ponderados motivos, segundo os óculos e tapa-olhos de alguns, e, segundo outros, escoltados pela burqa-fantasma da mais vexaminosa derrota militar e política de toda a sua história, devolvendo o povo afegão aos mesmos talibãs de quem, vinte anos antes, o haviam resgatado “para sempre”.
O que resta é o aparente fato de que, em setembro de 2021, num mundo que se dizia que nunca mais voltaria a ser o que era, o Afeganistão está mais próximo de 1996 do que de 2022.
Em 2041, é provável que as muitas voltas do “novo normal” ao redor de si mesmo nos tragam de novo aos mesmos cenários pré-pandêmicos de 2019: essencialmente, nos reencontraremos digladiando-nos pelos mesmos partidarismos do ano 19 ab Urbe Condita e perfeitamente despreparados para a próxima emergência sanitária, que poderíamos muito bem evitar se não optássemos com tanto afinco por continuar euforicamente acusando uns aos outros de ter provocado a anterior.
Até lá, o mundo ainda acabará mais algumas vezes, sem ter deixado em nenhuma delas de ser o que é.
“O que foi é o que será. O que aconteceu é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol” (Eclesiastes 1, 9).