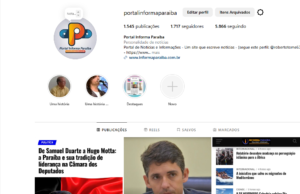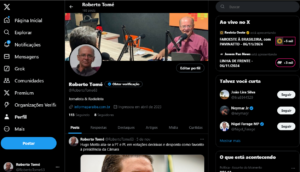Educação & Cultura
Populista ou popular? Quem foi João Goulart, presidente derrubado pelo Regime Militar de 1964

Quem escutava rádio na tarde de 25 de agosto de 1961 foi surpreendido, de repente, com um boletim fora de hora do Repórter Esso, principal noticiário do país à época.
Não era trivial, dada a importância do acontecimento: “o senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à Presidência da República!”.
Seu vice-presidente, João Goulart, de quem, aliás, era adversário político, só saberia da notícia no dia seguinte, em Cingapura, aonde chegara após uma longa viagem pela China.
Começaria ali um périplo de 12 dias até que João Goulart – ou Jango, como era chamado desde a infância – saísse do país asiático e fosse empossado presidente do Brasil. Nesse intervalo de duas semanas, enquanto o cargo máximo da República titubeava na capital do país, Jango girou parte do mundo esperando uma definição.
“Se tratando de um líder trabalhista combatido pelos conservadores militares e civis desde os anos 1950, e ainda voltando de uma viagem a um país comunista, era esperada uma reação das Forças Armadas”, contextualiza seu biógrafo mais famoso, o historiador Jorge Ferreira, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em João Goulart: uma biografia (Record, 2011).
“Foi uma reação golpista, acima de tudo, porque ele tinha o direito constitucional de assumir o cargo”, continua Ângela de Castro Gomes, professora emérita do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), lembrando que, naquela época, a vice-presidência era um cargo eletivo – e que, no pleito de 1960, Jango ganhara de Milton Campos, candidato da chapa de Jânio, com 41% dos votos.
No Brasil, essa reação havia começado, na verdade, horas depois da renúncia de Jânio Quadros, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, tomou uma posse provisória do governo anunciando que, se Jango voltasse ao Brasil, seria preso ainda no aeroporto – mesmo sem nenhuma acusação formal. Antes de ser dele, aquela era uma decisão da junta das Forças Armadas que, no pano de fundo, assumira o comando do país, e que quase impetrou o golpe militar três anos antes de se consumar.
De Cingapura, o ainda vice-presidente brasileiro voou para Paris, na França, onde convocou uma entrevista coletiva para confirmar seu regresso.
“Pelos dispositivos constitucionais do meu país, considero-me o novo presidente do Brasil”, afirmou. Depois, porém, foi a Nova York, nos EUA, esperar os desdobramentos do seu anúncio.
No Brasil, a divisão se acirrava primeiro nos bastidores e, depois, nas ruas. Em Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, reuniu chefes militares locais em torno de um movimento que ficaria conhecido como “Campanha da Legalidade” e que, como diz o nome, reforçava o rito legal sobre a posse de Jango.
Em paralelo, protestos convocados por sindicatos e movimentos sociais irrompiam em favor do ainda vice-presidente em São Paulo, em Pernambuco e no extinto estado da Guanabara, hoje Rio de Janeiro.
“A sensação era de que ia explodir uma guerra civil”, diz o historiador Rodrigo Patto Sá, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e autor de vários livros sobre aquela época – entre eles, Passados presentes: o golpe de 1964 e a ditadura militar (Cia. Das Letras, 2021).
“Foi quando as vozes da moderação – que sempre surgem no Brasil – entraram em cena.”

Mesmo diante dos riscos, Brizola era a única alternativa segura para a volta de João Goulart ao país. Assim, de Nova York, ele foi a Buenos Aires, na Argentina, e depois a Montevidéu, no Uruguai, por onde finalmente penetrou o território brasileiro em um avião alugado às pressas pelo governador gaúcho.
Nesse interim, os militares iam costurando, tensos, um acordo político com os partidos no Congresso, admitindo a posse desde que ela acontecesse dentro de um novo desenho institucional: o parlamentarismo. “Aquilo foi um arranjo para evitar a guerra, mas os envolvidos sabiam, mesmo os opositores do Jango, que não ia funcionar por muito tempo. O sistema nasceu morto”, avalia Patto Sá.
“Era a saída mais honrosa para eles”, prossegue Jorge Ferreira. O historiador conta como o ainda vice-presidente relutou, mas, ao fim de uma longa negociação conduzida por um político mineiro sem cargo à época, Tancredo Neves, que viajara a Montevidéu representando Mazzilli, acabou por aceitar a proposta.
Ele fez uma rápida escala em Porto Alegre para acenar ao povo nas ruas e, então, voou a Brasília – onde, em paralelo, os deputados ratificavam o combinado e tornavam o governo do Brasil parlamentarista.
Jango ficaria no poder, oficialmente, até o primeiro dia de abril de 1964.

De deputado a ministro
Gaúcho de São Borja, mesma cidade de Getúlio Vargas, a cerca de 580 km da capital do Estado, João Goulart nasceu em uma família proprietária de grandes porções de terras no interior do Rio Grande do Sul. Entrou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Porto Alegre (hoje parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) em 1935, com 16 anos.
Segundo Jorge Ferreira, foi nessa mesma época que Jango conheceu Getúlio, e que o então ditador do Estado Novo teria lhe dado um conselho definitivo: entrar para a política, já que ele “falava muito bem”.
João Goulart começou a cumprir aquele destino pouco mais de uma década depois, com o pai já morto e quando ele assumira o controle dos negócios familiares.
Aconteceu também pelas mãos de Getúlio, que o convidou para presidir a filial local do seu recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Tempos depois, em 1947, ele assumiu seu primeiro cargo público, de deputado estadual, após somar 4,1 mil votos nas eleições locais.

“O PTB era um partido progressista”, explica Ângela Gomes. “Isso significa dizer, principalmente, que era um partido de esquerda, embora essas classificações fossem diferentes naquela época, em que a esquerda muito mais ligada ao PCB [Partido Comunista Brasileiro]”, completa.
Rodrigo Patto Sá lembra como o PTB, que havia sido criado por Getúlio justamente para antagonizar com o PCB, foi se inclinando à esquerda nos anos 1950, embora dentro dos seus próprios limites. “O programa do partido era melhorar as condições dos trabalhadores. Os comunistas queriam acabar com a propriedade privada e colocar os operários no poder. Eram duas coisas bastante diferentes.”
Jango deixou a presidência nacional do PTB já no exílio no Uruguai, em 1965, mas permaneceria no partido até sua morte, em 1976.
Em 1950, Jango e Getúlio eram mais do que conterrâneos: haviam se tornado confidentes. “É que ali existia uma questão central na política brasileira: quem seria o herdeiro político de Getúlio? Ela era relevante, já que uma característica inata dos líderes carismáticos é a intransmissibilidade”, aponta Christian Lynch, que leciona Pensamento Político Brasileiro no Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ).
“Jango só foi ocupando esse lugar porque ambos sabiam que ele nunca seria uma sombra ao carisma do Getúlio.”
As eleições daquele ano marcaram essa relação de complementariedade e, enquanto Goulart subia um degrau na carreira política, elegendo-se deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Vargas voltava ao poder com os votos de quase metade do eleitorado brasileiro à época (48%).
Foi, antes de tudo, um período tumultuado na vida de Goulart – ou, na percepção de Lynch, de “provação”. “Era um sacrifício que ele precisava cumprir para mostrar a Getúlio que tinha condições de ser seu herdeiro”, analisa.
O professor do IESP-UERJ se refere a um intervalo de meia década em que Jango passou por vários postos públicos: foi deputado federal, secretário do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul e ministro do Trabalho.
Este último cargo foi, aliás, a prova final. Em 1952, enquanto trabalhadores organizados faziam greves seguidas pelo país e a União Democrática Nacional (UDN) tensionava o campo político como oposição, Getúlio chamou seu candidato a herdeiro para costurar uma relação melhor do governo com os sindicatos.
“Os militares não gostaram. Principalmente quando ele tomou a decisão de tirar a antiga interferência da pasta na definição das lideranças sindicais, que abriu espaço para comunistas encabeçarem os sindicatos. O temor das Forças Armadas era que a esquerda começasse a ascender demais no país por meio do Jango”, diz Rodrigo Patto Sá, da UFMG.
A maior crise do cargo aconteceu pouco mais de um ano depois de assumi-lo, em 1954, quando, em meio à revisão do salário mínimo, protestos tomaram as ruas das capitais brasileiras reivindicando um ajuste de 100%. O empresariado, por sua vez, concordava com um aumento de até 40%.
Em fevereiro daquele ano, a tensão escalou ainda mais quando coronéis do Exército formalizaram uma reclamação do sucateamento das Forças Armadas ao Ministério da Guerra, apontando a “má administração da coisa pública” como causa da situação.
Publicados nos jornais, o “Manifesto dos Coronéis” virou uma arma apontada, pela UDN, na direção de Jango, que deixou o ministério naquele mesmo mês – não sem deixar nas mãos de Getúlio uma proposta de reajuste do salário mínimo em 100%, ratificada pelo presidente três meses depois.
Viria, então, a maior crise pessoal, naquele agosto, quando Getúlio se suicidou dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então sede do governo federal.
“Quando o telefone [dele] tocou, ele achou que tinha acontecido um golpe de Estado. Nem de longe imaginava que se tratava do suicídio do Getúlio”, conta Jorge na biografia. Para Lynch, não se tratava só de uma impressão.
“Não há dúvidas de que Getúlio foi deposto”, afirma ele. “Mas, acima de tudo, foi um momento crucial na história brasileira, porque mostrou a força do trabalhismo como movimento e, ao mesmo tempo, deixou evidente que as elites não controlavam mais o poder político. Ali, João Goulart já era protagonista.”

O ‘perigo’ comunista
No final de 1954, convencido pelo PTB, Jango concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas perdeu a eleição para a coligação liderada pela UDN.
Foi um período rápido de incertezas: no começo do ano seguinte, em meio às investidas dos militares no entorno do governo provisório de Café Filho, ele negociou um acordo do seu partido com o PSD, do então governador mineiro, Juscelino Kubitschek, para concorrer como vice na chapa na eleição presidencial de 1955.
Foi nessa época que João Goulart passou a ser chamado mais firmemente de “comunista”, inicialmente por um de seus opositores mais ferrenhos, o jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, e gradativamente em todos os conflitos políticos. O “comunismo de Jango” se tornaria uma acusação grave, primeiro tomada pelos militares, depois pela população e, então, pela própria história, com consequências significativas na trama do golpe de 1964.
“Até hoje chamá-lo de comunista é, para alguns setores da sociedade, um jeito de legitimar o que aconteceu”, diz Ângela Gomes, da FGV-RJ.
Esse diagnóstico tem, de fato, impactos presentes. A BBC News Brasil revelou, em abril de 2019, por exemplo, que o governo do então presidente Jair Bolsonaro enviou um telegrama à ONU afirmando que, em 1964, não houve golpe de Estado no Brasil, e que o regime militar instaurado naquele ano fora necessário para “afastar a crescente ameaça de uma tomada comunista” do país.
O texto ainda citava que Jango fora deposto com “o apoio da maioria da população”.
Dois anos depois, Bolsonaro vetou um projeto de lei aprovado amplamente no Congresso que nomeava quase a totalidade da rodovia BR-153, entre Cachoeira do Sul (RS) e Marabá (PA), com o nome de João Goulart.
A justificativa do governo à época era que homenagens como essas não devem se inspirar em “práticas dissonantes das ambições de um Estado democrático”.
Pesquisando aquele período para o último livro que publicou, Patto Sá percebeu que, ao contrário da narrativa que ficou para a história, era raro encontrar menções diretas a Jango como um “comunista”. Para o professor da UFMG, esse sequer foi o álibi para justificar a saída dele do cargo, em 1964, mas sim o fato de o presidente ter ampliado o espaço de atuação política de grupos à esquerda dentro do governo.
“Até porque ele era herdeiro de Vargas, que combatia o comunismo, além de ser um dos fazendeiros mais ricos do Brasil à época”, relembra ele.
O resultado da eleição presidencial de 1955 é usado hoje como demonstração inequívoca da popularidade de Jango: com 44,2% dos votos, ele voltou a bater Milton Campos, da UDN, e se elegeu vice-presidente com sobras. Sua votação foi maior do que a do próprio Juscelino, que venceu Juarez Távora com 35,6%.
- Como Carlos Lacerda ‘vendeu’ golpe de 64 em tour pela Europa20 março 2024
- 50 anos do AI-5: Os números por trás do ‘milagre econômico’ da ditadura no Brasil13 dezembro 2018
- A história dos 6,5 mil membros das Forças Armadas perseguidos pela ditadura militar13 dezembro 2018
Reformas de base
O discurso de posse de João Goulart como presidente do Brasil, após a renúncia de Jânio, naquele 7 de setembro de 1961, caberia perfeitamente no Brasil de hoje. Diante de uma polarização violenta nas ruas, ele usou a ocasião para se colocar como “guardião da unidade nacional”, pedindo que que, dali em diante, se “dissipassem todos os ódios e ressentimentos pessoais”.
“A conjuntura era muito difícil”, afirma Jorge Ferreira em seu livro. “Ele assumiu a Presidência em uma situação emergencial: uma gravíssima crise militar, contas públicas descontroladas, o país endividado interna e externamente, além da delicada situação política. Ainda mais grave, Jango não tinha como implementar seus projetos reformistas”.
A impossibilidade estava, em primeiro lugar, no novo desenho institucional. “Ele achava que poderia superar essas limitações com a força que tinha nas ruas – e ele tinha mesmo”, explica Christian Lynch, do IESP-UERJ. Institucionalmente, sua estratégia foi tentar ampliar espaço ao centro, usando, como ferramenta, a aliança anterior com o PSD que havia elegido a chapa com Juscelino.
Mas, para além disso, havia uma impossibilidade de agenda. Segundo Ângela Gomes, da FGV-RJ, o programa político de Jango já estava estabelecido desde os anos 1950, sobretudo por meio de Francisco San Tiago Dantas – que seria seu ministro da Fazenda até meses antes do golpe.
Jornalista e advogado, ele era o autor intelectual das chamadas “reformas de base”: um conjunto de leis que pretendiam transformar, entre outras coisas, o acesso à terra, à cidadania e às universidades públicas.

Havia também planos de mexer no sistema eleitoral, acabando com o impedimento de voto aos analfabetos e permitindo eleições de soldados e cabos, e de rever todo o sistema fiscal, eliminando o déficit do Tesouro Público, além de um projeto para enxugar a máquina pública.
Para Rodrigo Patto Sá, não eram propostas radicais em si mesmas, embora ativassem conflitos com a direita. “O ponto central não era tanto empreender as reformas, mas sim o protagonismo das alianças de esquerda que o governo de Jango estava fazendo – que, no clima da época, tinha um efeito muito mais intenso.”
Christian Lynch, por sua vez, salienta como ainda hoje há um erro histórico em ler as reformas de base de Jango como demandas apenas do campo da esquerda. Ao contrário, existia um consenso entre todo o espectro ideológico de que o país vinha sendo administrado por leis anacrônicas – e que era preciso mudá-las para desenvolver o país.
“A divisão residia aí, porque desenvolvimento, para a esquerda, era um projeto vindo de baixo para cima, distribuindo renda e propriedade. Para a direita, por sua vez, era estipular uma ordem sem dividir o poder com o ‘andar de baixo'”, explica.
Para ele, não é trivial que muitas reformas de base tenham sido implementadas pelos próprios militares posteriormente, como o Estatuto da Terra, promulgado em novembro de 1964 pelo governo do general Humberto Castelo Branco.
Às voltas com as limitações do parlamentarismo, Jango conseguiu antecipar o plebiscito previsto quando da sua posse, sobre a continuidade do modelo, de 1965 para dois anos antes. Ergueu uma coalizão à esquerda, angariou apoio na imprensa e até nas Forças Armadas e venceu o pleito com 80% dos eleitores decidindo pelo retorno do presidencialismo. Assim, entrou em janeiro de 1963 como queria ter feito em setembro de 1961: como presidente, de fato, do Brasil.
Na sua segunda posse, Jango ainda nunciou seu programa econômico, chamado de Plano Trienal e assinado por um economista de peso: Celso Furtado, ligado ao grupo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), da ONU.
Jorge Ferreira elenca as prioridades daquele projeto: combater a inflação sem comprometer o crescimento e, depois, reformar o aparelho administrativo – bancos, regime fiscal e, então, fazer a reforma agrária.
“Reforma agrária era vista, até por setores que não estavam à esquerda, como um jeito de desenvolver o país, dada a quantidade de trabalhadores rurais que o Brasil possuía. Mesmo alguns nomes da direita defendiam isso. Mas o anticomunismo e principalmente as ações das Ligas Camponesas começaram a mudar essa percepção comum”, diz Lynch, se referindo aos grupos de camponeses organizados que passaram a invadir fazendas no interior do país.
No ano do golpe, Jango se agarrou ainda mais às suas reformas de base – principalmente à agrária que, também segundo Ângela Gomes, lhe aparecia como a solução para todos os problemas econômico do Brasil. Nas ruas, a disputa narrativa começava a ganhar corpo pela perspectiva à direita e, em março, segundo Jorge Ferreira, já havia um “anticomunismo espalhado pela sociedade”, mas sobretudo apontado na direção de Jango.
Foram alguns dos meses mais críticos do século 20 do Brasil. No dia 13 de março de 1964, o presidente falou de improviso em um comício organizado por grupos à esquerda, ligados ao PCB e ao Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), em frente à estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
Segundo os jornais da época, 200 mil pessoas estavam no evento, e ouviram Jango defender novamente suas reformas – especialmente a agrária.
“[Ela] não é capricho de um governo ou programa de um partido. É produto da inadiável necessidade de todos os povos do mundo”, disse ele, em meios aos aplausos da multidão. “Aqui no Brasil, constitui a legenda mais viva da reivindicação do nosso povo, sobretudo daqueles que lutaram no campo”, prosseguiu.

Em um momento definitivo daquela fala – e do futuro do país –, Jango atacou parte da Igreja Católica, contrária à reforma, vociferando que “nem os rosários podem ser erguidos como armas contra os que reclamam a disseminação da propriedade privada da terra”.
A frase foi tomada, dias depois, por uma freira anônima de São Paulo, Ana de Lourdes, para acusar o presidente de atacar a fé católica. A reação seria outro comício, na Praça da Sé, na capital paulista, chamada Marcha da Família com Deus Pela Liberdade, que acabou se transformando na maior demonstração da oposição a Jango. Pelos números oficiais, 200 mil pessoas participaram.
“Nos cartazes, a tônica era o anticomunismo”, conta Jorge Ferreira. “‘Verde e amarelo, sem foice e sem martelo’ ou ‘Abaixo os pelegos e os comunistas'”.
Em 2003, o antigo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) doou à Unicamp, em São Paulo, um calhamaço de pesquisas políticas feitas nas décadas anteriores e, em uma delas, aparecia que Jango tinha, naquele mês de 1964, 70% de aprovação popular.
“Mas ali já estavam acontecendo várias conspirações militares. Algumas em curso desde 1961”, conta Patto Sá. “Na altura dos comícios, elas apenas se intensificaram”.
Em paralelo, o governo planejava novos eventos públicos, à luz da Central do Brasil, e que desaguariam em um grande evento também na Praça da Sé.
Os comícios planejados não tiveram tempo de acontecer: depois de radicalizar o discurso em meio a revoltas na caserna, Jango despachava no gabinete do Palácio das Laranjeiras, na Guanabara, no dia 31 de março de 1964. Enquanto isso, um general de Minas Gerais, Olímpio Mourão Filho, antecipava o movimento previsto inicialmente pelas Forças Armadas para o dia 2 de abril e colocou suas tropas em direção ao Estado, saindo de Juiz de Fora, a uma distância de não mais do que 185 km.
Jango voou para Brasília, e depois para Porto Alegre, onde esperava liderar outra resistência ao golpe iminente mobilizada pelo mesmo Brizola.
Foi quando Auro de Moura Andrade, presidente do Senado indicado por Jango – e que lhe empossara presidente em 1961 –, decretou, em Brasília, a vacância do cargo, justificando que o presidente havia deixado o país.
“Foi uma manipulação para viabilizar o golpe e conseguir reconhecimento internacional imediato, principalmente dos EUA”, explica Patto Sá.
A história parecia se repetir: enquanto Ranieri Mazzili assumiu a Presidência provisória das mãos de Moura Andrade, João Goulart preparava sua saída do território brasileiro pelo Uruguai – por onde entrara quatro anos antes. Ainda passou alguns dias em São Borja e depois em Itaqui (RS), numa fazenda que foi a leilão no ano passado, sem acabar com nenhum comprador.
Segundo os jornais da época, sete pessoas morreram nos protestos de rua no Rio e em Recife, no Pernambuco, em meio à transição.
Jango ficou no Uruguai até 1973, quando o país também sofreu um golpe militar. Não sem preocupações: em 2019, a viúva dele, Maria Thereza Goulart, contou ao jornal Folha de S. Paulo que, certa vez, foi detida em um posto do exército do país durante uma viagem com amigos, e que ela chegou a ficar nua diante dos soldados.
“Meu marido nunca ficou sabendo”, disse. Em janeiro deste ano, a Justiça Federal exigiu que a União pague uma indenização de cerca de R$ 80 mil a ela pelos episódios daqueles dias de março de 1964, como o saque de bens que a família tinha no Rio Grande do Sul.
Naquele mesmo ano de 1973, Juan Domingo Perón se reelegeu presidente na Argentina, e acenou positivamente à ideia de receber o colega brasileiro como exilado político. Jango permaneceria no país vizinho por mais três anos, até morrer, em sua fazenda em Mercedes, na província de Buenos Aires, em 1976. Ele foi enterrado em São Borja, sua terra natal.

Em novembro de 2013, em um dos raros consensos dentro do Congresso, a sessão que declarou a vacância do cargo, em abril de 1964, abrindo caminho para o golpe, foi oficialmente anulada.
Naquela mesma época, o corpo de Goulart foi retirado do túmulo para uma exumação – já que corria a dúvida de que ele tinha sido assassinado no exílio. O processo durou até o ano seguinte e não chegou a nenhuma conclusão.
Um mês depois, na esteira das solenidades, foi organizada uma sessão na Câmara para devolver o cargo de presidente a Goulart. Uma única voz dissonante subiu à tribuna, segundo o arquivo do Câmara: a do então deputado federal Jair Bolsonaro.
“Querem apagar um fato histórico de modo infantil. (…) Tiremos o peso dos militares. Salvamos o país de um regime ditatorial.”
Fonte: BBC