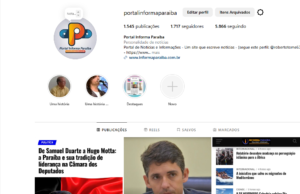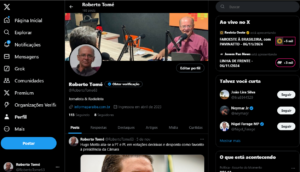Judiciário
Faltavam convenções constitucionais no Brasil Império
Uma comparação com o Reino Unido

As tradições e a formação da Constituição britânica
Na famosa obra Reflections on the Revolution in France, de 1790[1], Edmund Burke alerta para os perigos da radical reconstrução constitucional ocasionada pela Revolução Francesa, na qual reinou “[…] o total desrespeito de todas as antigas instituições que prevalece entre vós […]”.[2]
Na Inglaterra, por outro lado, todas as formas realizadas “[…] fundaram-se na relação com a antiguidade […]”,[3] e “[…] desde a Magna Carta à Declaração de Direito, foi política invariável de nossa Constituição reivindicar e afirmar as nossas liberdades como uma herança que nos vem dos nossos antepassados, para ser transmitida à nossa descendência […]”.[4] Burke ainda afirmou que, “[q]uando antigas convicções e regras da vida são retiradas, a perda é talvez incalculável.”[5]
Essa tendência possui suas origens em 1066, quando Guilherme, o Conquistador tomou a Inglaterra, tendo imposto um poder soberano sobre os ingleses. Foi nesse contexto que o jurista Sir Edward Coke passou a advogar que Guilherme estaria sujeito às antigas leis, e, a partir daí, desenvolveu-se no Direito Constitucional britânico a tendência a considerar que todas as lutas políticas por liberdade consistem, em verdade, a apelos à restauração das antigas e imemoriais liberdades.[6]
Nesse sentido, os importantes documentos constitucionais britânicos — a Magna Carta, de 1215, o Petition of Right, de 1628 e o Bill of Rights, de 1689 — foram feitos para declarar e corroborar o velho, e não para fazer o novo.[7]
Costuma-se pressupor que, do ponto de vista moderno, os britânicos não possuem uma Constituição. Isso deve-se à sua índole pragmática e antirracionalista, que acabou por influenciar os assuntos políticos e constitucionais.[8] O espírito da Constituição britânica teria sua expressão nas práticas do common law inglês, um conjunto de costumes, práticas e regras que evoluíram desde tempos imemoriais.[9] Nesse sentido, a Constituição britânica seria produto da extensão do método de common law às atividades do governo, e consistiria, também, em um conjunto de práticas costumeiras.[10]
As convenções no Direito Constitucional do Reino Unido
Segundo Jennings, as convenções constitucionais são necessárias para efetivar o espírito de cooperação da Constituição.[11]
Uma das definições mais influentes das convenções constitucionais foi apresentada por Dicey, para quem consistem nas máximas ou práticas que, apesar de regularem a conduta da Coroa, dos Ministros e de outras pessoas sujeitas à Constituição, não são exatamente leis.[12]
Para Barber, o motivo para uma convenção ser obedecida é o medo das críticas: parte considerável da comunidade na qual uma regra social opera costuma adotar uma posição crítica caso essa regra seja desobedecida, e, caso violada, os infratores perderão capital político[13].
Sobre o porquê dessa reação, Jaconelli aponta para a reciprocidade: os que estão no poder honrarão as convenções porque sabem que, um dia, estarão fora do poder, e delas se beneficiarão[14]. Barber apresenta ressalvas ao argumento de Jaconelli, uma vez que são os partidos políticos que exercem o papel principal de garantir a efetividade das convenções. Se é assim, e se as estruturas partidárias se enfraquecerem, a efetividade das convenções também se enfraquecerá.[15]
Para Dicey, as convenções constitucionais são diferentes das leis da Constituição, sendo que estas, diferentemente daquelas, são passíveis de serem impostas pelas cortes.[16] Barber discorda. Para Barber, as convenções devem ser reconhecidas ao interpretar a legislação, e podem ser usadas como provas de fatos para comprovar o direito pleiteado.[17]
Os pronunciamentos dos juízes sobre a natureza e o conteúdo das convenções não necessariamente possuem força vinculante direta, mas a interpretação judicial das convenções pode modificar a visão da comunidade na qual a convenção opera, potencialmente modificando a visão geral sobre a convenção e dificultar o seu descumprimento.”[18]
Em face desses conflitos acima expostos, Loughlin discorda da tese, proposta por alguns constitucionalistas, de que a prática constitucional britânica evolui por meio de um contínuo diálogo e colaboração entre as principais instituições do Estado. Para o autor, o que há é uma luta contínua entre diferentes concepções sobre as fundações constitucionais do Reino Unido, e a tendência é que essa luta ainda persista por um bom tempo.[19]
As convenções constitucionais no Brasil Império
As convenções constitucionais encontram campo mais fértil em sistemas do tipo common law, sobretudo naqueles de Constituição não escrita, como é o caso do Reino Unido. Isso não significa que as convenções constitucionais não se manifestem nos sistemas do tipo civil law. Significa apenas que o seu espaço tende a ser mais restrito. Se é assim, o exercício atípico do poder político pode resultar não numa convenção constitucional, mas sim numa prática inconstitucional.
No caso do Brasil Império, a ausência de convenções constitucionais robustas decorreu, sobretudo, do ambiente político e da centralização de poder.
Sob o pálio da Constituição de 1824, Dom Pedro I concentrou muitos poderes, tendo-os exercido de forma arbitrária.[20] Além disso, o regime parlamentar era imperfeitamente aplicado pelo Governo, que não se sentia responsável perante a Câmara.[21]
A excêntrica figura do Poder Moderador, deturpação das concepções do cientista político suíço Benjamin Constant, foi uma das maiores fontes de poder conferida ao Imperador, que guardaria, entre outras, a prerrogativa tanto de dissolver a Câmara dos Deputados e de convocar outra em substituição, quanto de suspender os magistrados.
Cumpre esclarecer um mal-entendido: Benjamin Constant nunca defendeu um Poder Moderador, muito menos nos moldes adotados na Constituição Imperial. O propósito de Constant era limitar o poder e impedir o abuso de autoridade. Criticava, inclusive, os excessos da maioria, antecipando muito do que se viria a escrever-se sobre a ditadura da maioria ou sobre democracias plebiscitárias.
Constant entendia que, a depender do arranjo institucional adotado, o poder poderia ser, na prática, adequadamente limitado. Enxergava a monarquia constitucional inglesa como um exemplo de equilíbrio entre os poderes constituídos. Era um caso em que a maioria não podia tudo contra as minorias. Seu conceito, portanto, é o de um poder neutro (pouvoir neutre), poder real ou poder intermediário, a exemplo do que a Rainha exercia perante o Primeiro-Ministro e o respectivo gabinete na Inglaterra.[22]
Nada mais distante do Poder Moderador da Constituição Imperial, que dava amplos poderes ao Imperador, tornando-o muito diferente do Rei ou da Rainha da Inglaterra. O modelo brasileiro nunca foi uma genuína monarquia constitucional justamente porque nunca seguiu as ideias de Benjamin Constant.
Portanto, os anos que se seguiram à Carta Imperial foram tempos de forte centralização de poder na figura do Imperador, que o exerceu de modo contrário aos cânones da liberdade individual e dos direitos e garantias fundamentais. Não há espaços para convenções constitucionais onde o arbítrio suplanta a lógica negocial. Logo, não se identificam, nesse período, práticas relevantes que possam ser enquadradas como convenções constitucionais.
Após a saída de Dom Pedro I, o Império passa a ser governado pela chamada Regência, que vai de 1831 até 1840.[23]
Durante o período da Regência, a Constituição de 1824 sofre sua primeira e única reforma, materializada no Ato Adicional de 1834.[24] A reforma constitucional desenha as primeiras linhas do federalismo brasileiro, havendo estudiosos que tratam desse período como uma experiência quase-republicana[25]. Ademais, a reforma ainda tolheu da Regência a prerrogativa de dissolver a Câmara, bem como estabeleceu eleição popular para o cargo de Regente. [26] Nas eleições para a Regência una (1835), sagrou-se vencedor o Padre Feijó, representante do Partido Liberal.[27] Padre Feijó, em 1837, renunciou ao cargo, e elegeu-se novo Regente, Pedro de Araújo Lima, do Partido Conservador. Sua vitória foi o marco inicial do que viria a ficar conhecido como o “regresso”, de retorno à lógica de um Estado central forte.
Foi exatamente o conflito entre liberais e conservadores que ofereceu uma base material para o surgimento de convenções constitucionais no Brasil Império, pois suscitou a necessidade de uma conciliação entre ambas as agremiações políticas. Essa conciliação envolveu, por um lado, o reforço da figura imperial, com a restauração do Poder Moderador e do Conselho de Estado e, por outro, o funcionamento de um sistema de governo parlamentarista à brasileira (parlamentarismo às avessas). Essa conciliação, chamada de “acordo das elites”,[28] envolvia regras escritas e não escritas — sendo essas designadas, à época, como o “espírito do regime”.[29]
De acordo com a Constituição, competia ao Imperador nomear, livremente, os Ministros de Estado. Mas criou-se, em 1847, o cargo de Presidente para o Conselho de Ministros, cujo propósito declarado seria a conveniência de dar ao ministério uma organização mais adaptada às condições do sistema representativo.
Ao Presidente do Conselho, na qualidade de um “Primeiro-Ministro”, competiria, por delegação do Imperador, chefiar o Poder Executivo, designando os membros do Conselho (ou Gabinete). Esses membros eram indicados entre os integrantes do partido que se sagrava vencedor nas eleições parlamentares.
Portanto, a partir de um acordo com as elites políticas, o Imperador, em tese, abre mão de parcela de seu poder, permitindo-se que a organização do Governo se dê de acordo com as maiorias parlamentares. Essa prática constitucional instalou-se no Segundo Reinado, por meio de mútuo ajuste entre as autoridades constitucionais.
Nesse sentido, o chamado “parlamentarismo às avessas” oferece os contornos que permitem caracterizá-lo como uma das poucas, senão a única convenção constitucional relevante verificada no Brasil Império. Cuida-se de um acordo, não positivado, que envolve as autoridades constitucionais quanto ao modo de exercício do poder político dentro do Estado. Enquadra-se, pois, no conceito de Barber.[30]
Há quem defenda que esse acordo não seria mais do que um verniz. Na prática, a vontade do Imperador sempre haveria de prevalecer. Como sustenta Sérgio Buarque de Holanda, se Dom Pedro II cedia a essa regra, seria porque haveria “coincidência entre a sua vontade e a da maioria”.[31]
Não obstante, antes de descaracterizar o acordo, essa prerrogativa de dissolver a Câmara dos Deputados, pelo contrário, parece constituir sua parte integrante e elementar. Apesar da aparente instabilidade desse sistema, tratava-se, em verdade, “de um sistema flexível que permitia o rodízio dos dois principais partidos no governo, sem maiores traumas”. Assim, “[p]ara quem estivesse na oposição, havia sempre a esperança de ser chamado a governar”, o que tornou desnecessário o recurso às armas.[32]
Considerações finais
A conjuntura político-constitucional do Brasil Império não se mostrava propícia ao desenvolvimento de convenções constitucionais, seja em razão de sua inspiração e de suas raízes romano-germânicas, seja em razão, primordialmente, de sua ineficácia normativa. Essa conjuntura sofre alguma modificação somente a partir da abdicação do trono, por Dom Pedro I, evento sucedido pelo período de Regência, em que se verificaram alguns avanços liberais, como a descentralização de poder, tanto territorial quanto orgânica, com o fortalecimento das províncias e do Parlamento.
Foram essas as circunstâncias que deram origem ao “parlamentarismo” no Brasil, em que o Imperador, a despeito da falta de norma constitucional escrita, compartilha seu poder de direção do governo com as maiorias parlamentares — prática essa que pode ser entendida como uma convenção constitucional relevante, semelhante à concebida pelos ingleses.
O Império do Brasil nunca seguiu o modelo monárquico de Benjamin Constant, baseado no poder neutro (pouvoir neutre), mas alguns passos, ainda que tímidos, foram dados nessa direção durante o reinado de Dom Pedro II. As convenções constitucionais desempenharam papel de alguma relevância nesse período, ainda que bem aquém do que se verifica no modelo inglês.
[1] BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução em França. Tradução: Ivone Moreira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015, p. 75.
[2] Op. Cit, 2015, p. 75.
[3] Op. Cit, 2015, p. 82.
[4] Op. Cit, 2015, p. 84.
[5] Op. Cit, 2015, p. 138.
[6] Op. cit, 2023, pp. 23-24.
[7] Op. cit, 2023, p. 19.
[8] LOUGHLIN, Martin. The British Constitution. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2023, p. 17.
[9] Op. cit, 2023, p. 19.
[10] Op. cit, 2023, p. 20.
[11] JENNINGS, W. Ivor. The Law and the Constitution. 3ª ed. Londres: University of London Press, 1944, p. 81.
[12] DICEY, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 8ª ed. Londres: Macmillan, 1915, p. cxli.
[13] BARBER, N. W. The United Kingdom Constitution: an introduction. Oxford: Oxford University Press, 2021, p. 102.
[14] JACONELLI, Joseph. Do Constitutional Conventions Bind?, Cambridge Law Journal, vol. 64, nº 1, pp. 149-176, 2005, pp. 170-171.
[15] Op. cit, 2021, pp. 104.
[16] Op. cit, 1915, p. cxli.
[17] Op. cit, 2021, p. 107.
[18] Op. cit, 2021, p. 110.
[19] Op. cit, 2023, p. 115.
[20] FAUSTO, Boris. História do Brasil. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, p. 152-153.
[21] NOGUEIRA, Octaciano. 1824. 3. ed. Brasília: Senado Federal, 2012, p. 19.
[22] CONSTANT, Benjamin. Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France. Paris: Hocquet, 1815, pp. 18-19, 28-31, 39-40, 43.
[23] Op. cit, 1995, p. 161.
[24] Sobre o fracasso dessa experiência, cf. COSTA-NETO, João; MELLO, João Pedro de Souza. O federalismo brasileiro está morto e o assassino é o STF: uma tragédia em cinco atos. Revista general de derecho constitucional, vol. 37, pp. 1-28, 2022, pp. 5-6.
[25] CARVALHO, José Murilo de. A vida política. In. A construção nacional: 1830-1889, Vol. II. Coord. José Murilo de Carvalho. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012, p. 87.
[26] Op. cit , 2012, p. 90.
[27] Op. cit, p. 171.
[28] Op. cit, 1995, p. 179.
[29] HOLANDA, Sérgio Buarque de. o Brasil monárquico, Vol. VII: do Império à República. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005, p. 28.
[30] Op. cit, p. 93.
[31] Op. Cit, 2005, p. 28.
[32] Op. cit, p. 180.