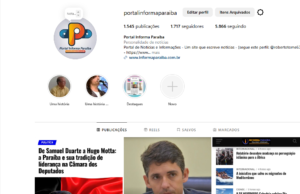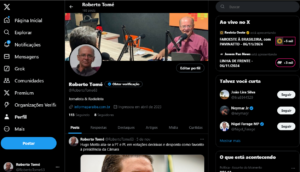Judiciário
Inconstitucionalidade e inconvencionalidade da nova Lei de Improbidade Administrativa
A Lei nº 14.230/21 representa um retrocesso no combate à corrupção, ao revogar dispositivos essenciais da Lei de Improbidade Administrativa
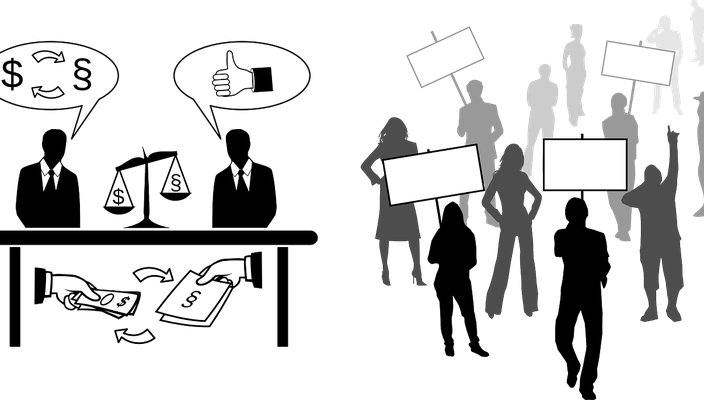
O presente artigo busca, de forma clara e concisa, trazer linhas gerais acerca do controle de convencionalidade das leis brasileiras, bem como avaliar, sob o prisma da constitucionalidade e da convencionalidade, a compatibilidade da Lei nº 14.230/21 e suas alterações à Lei de improbidade Administrativa Lei nº 8.429/92.
Para tanto, buscaremos fornecer breves explicações acerca dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos que visam combater a corrupção e como esses diplomas se aplicariam na aferição de validade das normas internas brasileiras, com ênfase na incidência dos diplomas internacionais e da Constituição Federal à Lei nº 14.230/21.
Após, faremos a análise dos dispositivos reformados da Lei de Improbidade Administrativa, trazendo à baila aqueles que reputamos incompatíveis com a ordem jurídico-constitucional, seja pela sua inconformidade com a Carta Magna, seja pela incompatibilidade com a ordem jurídica supranacional, esta devidamente incorporada ao Estado brasileiro. Ademais, iniciaremos vislumbrando os principais Tratados Internacionais contra a Corrupção dos quais o Brasil é signatário.
1. DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL
A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, está em vigor desde 1978. Ela engloba 22 (vinte e dois) Estados-partes no continente americano, incluindo o Brasil, e integra o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Ela foi promulgada através do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 (BRASIL, 1992).
O Brasil, no momento de sua adesão ao CADH, submeteu-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), obrigando-se a respeitar suas decisões. A competência da Corte IDH abrange todos os casos relativos à aplicação dessa e de outras convenções de direitos humanos no âmbito do SIDH.
Por outro lado, o SIDH tem dois objetivos na comunidade Interamericana: o avanço dos direitos humanos dentro dos Estados partes e a prevenção de retrocessos (CEIA, 2013). Porém, o que se tem observado são reiteradas condenações do Brasil, seguidas por constantes descumprimentos das sentenças emanadas da Corte IDH, por desrespeito às garantias judiciais e aos direitos de proteção judicial previstos na CADH (COIMBRA, 2014, p. 65).
A Constituição Federal de 1988 já previa a incorporação dos tratados internacionais à ordem jurídica interna em seu art. 5º. Vejamos:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[…]
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Tal fenômeno é chamado de abertura constitucional, segundo o qual os tratados podem vir a ter status constitucional (PIOVESAN, 2013). Além disso, os tratados internacionais de direitos humanos têm aplicabilidade imediata, devendo ser aplicados por todas as autoridades nacionais, inclusive as já mencionadas, sem necessidade de prévia regulamentação:
Art. 5º […]:
[…]
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Essa ideia é reforçada pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada por meio do Decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009. No artigo 26, ela traz o princípio pacta sunt servanda, expressando a obrigatoriedade dos ajustes entre as partes no Direito Internacional.
Por outro lado, o Brasil adotou tanto o modelo norte americano, quanto austríaco de controle de constitucionalidade (MORAES, 2016). Assim, é possível o controle abstrato ou concentrado e o controle concreto ou difuso, este último realizado por todos os juízes, inclusive os magistrados de primeira instância.
A Corte Interamericana é a intérprete máxima da Convenção Interamericana e de todos os tratados interamericanos de direitos humanos. Portanto, o entendimento firmado pela Corte Interamericana deve ser reproduzido pelos tribunais nacionais e por todos os juízes de primeira instância.
No Sétimo Caderno de Jurisprudência sobre Controle de Convencionalidade, a Corte Interamericana delineou os contornos do referido instituto, buscando realçar sua obrigatoriedade e ampla aplicação (OEA, 2020):
Consiste em verificar a compatibilidade das normas e demais práticas internas com a CADH, a jurisprudência da Corte Interamericana e os demais tratados interamericanos dos quais o Estado é parte.
ii) Deve ser realizado ex officio por todas as autoridades públicas.
iii) O seu exercício é feito no âmbito da competência de cada autoridade. Portanto, sua execução pode implicar a supressão de normas contrárias à CADH ou sua interpretação de acordo com a CADH.
iv) A obrigação sempre presente após o controle de convencionalidade é a de realizar um exercício hermenêutico que compatibilize as obrigações do Estado com seus regulamentos internos.
v) Os regulamentos internacionais e a jurisprudência da Corte Interamericana, tanto contenciosa quanto consultiva, são padrões de convencionalidade.
vi) A obrigação de realizar o controle decorre dos princípios do direito internacional público e das próprias obrigações internacionais do Estado assumidas no momento de se tornar parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. [tradução livre]
Vê-se que o controle de convencionalidade também abrange a compatibilização das normas internas às obrigações internacionais assumidas. No Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile, a Corte IDH esclareceu que o controle de convencionalidade pode implicar na expulsão das normas contrárias às convenções interamericanas ou sua interpretação de acordo com estas (OEA, 2019).
O próprio Supremo Tribunal Federal já vem realizando controle de convencionalidade, por exemplo, proibindo a aplicação de norma da própria Constituição Federal, claramente não convencional:
[…] diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na CF/1988, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da CF/1988 sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, LXVII) não foi revogada (…), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (…). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. (…) Enfim, desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao PIDCP (art. 11) e à CADH — Pacto de São José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para aplicação da parte final do art. 5º, LXVII, da CF/1988, ou seja, para a prisão civil do depositário infiel.
[RE 466.343, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Gilmar Mendes, P, j. 3-12-2008, DJE 104 de 5-6-2009, Tema 60.]
Porém, essa competência não se circunscreve apenas à Suprema Corte. O juiz de primeira instância também pode e deve controlar a convencionalidade das leis nacionais que violem os tratados interamericanos de direitos humanos. No Caso Cabrera García e Montiel Flores Vs. México, A Corte IDH assentou que
[…] a justiça em todos os níveis é obrigada a exercer ex officio um controle de convencionalidade entre as normas internas e a Convenção Americana […]. Nessa tarefa, os juízes e órgãos vinculados à administração da justiça devem levar em conta não apenas o tratado, mas também a interpretação do mesmo feita pela Corte Interamericana, intérprete última da Convenção Americana (OEA, 2019).
Em seu turno, o Princípio Pro Homine determina que seja aplicada a norma mais protetiva e mais garantidora dos direitos humanos, quando analisado o caso concreto. Em complemento, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos estabelecem standards mínimos de proteção, que são complementados pelos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sistema regional interamericano (AMORIM; TORRES, 2017, p. 1).
O controle de convencionalidade no Brasil, até bem pouco tempo, era assunto de conhecimento de poucos juristas. Conforme o tempo passa, novos entendimentos foram formados no âmbito dos Tribunais pátrios, sobretudo da mais alta Corte de Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e uma nova concepção sobre o tema foi difundida no meio acadêmico e técnico.
Em se tratando do controle de convencionalidade, ou seja, do controle das normas infraconstitucionais brasileiras, tomando como parâmetro de aferição da validade Tratados Internacionais de Direitos Humanos, tal fenômeno ganhou propulsão a partir dos julgamentos dos HC 82.959 e RE 466.343, ambos julgados no seio do STF.
A partir desses julgados emblemáticos, foi construída a base do sistema da convencionalidade das normas. Tratados Internacionais de Direitos Humanos passaram a ocupar lugar de superioridade hierárquica em relação a todas as normas de nosso ordenamento jurídico, ressalvadas as de cunho constitucional, e passaram a ditar, ao lado da Carta Magna de 1988, a validade de todas as demais normas jurídicas.
Dessa forma, a legislação passa a ter um duplo controle de validade. Um que envolve sua compatibilidade com a Constituição (controle de constitucionalidade) e outro que diz respeito à sua conformidade com a normativa supranacional quando essa cuidar de Direitos Humanos (controle de convencionalidade).
No primeiro caso, do controle da constitucionalidade, essa análise pode ser feita de forma difusa, por todos os membros do Poder Judiciário desse país, ou se exercida de forma concentrada por determinadas Cortes, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, quando a compatibilidade tiver por parâmetro a Constituição Federal, ou pelos Tribunais de Justiça, quando o parâmetro for uma Constituição Estadual.
No outro caso, o controle é exercido apenas na forma difusa, mesmo quando o julgamento ocorrer no STF. Cuidando a matéria da convencionalidade da legislação nacional de ponto incidental na matéria principal de mérito apreciada no caso concreto.
Tendo em vista esse marco jurídico de valoração das Normas Internacionais de Direitos Humanos, uma nova cultura jurídica passou a ser forjada no Brasil, mais focada na racionalidade e coerência das normas em um sistema global, do qual o Estado brasileiro é apenas mais um integrante.
Com base nessa nova forma de ver as leis internas de um país é que analisaremos as modificações implementadas pela Lei nº 14.230/21 e sua validade sob duas perspectivas distintas, a da convencionalidade e a da constitucionalidade.
O combate à corrupção é direito humano e fundamental, uma vez que é garantia do cumprimento dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
1.1. DOS TRATADOS INTERNACIONAIS CONTRA A CORRUPÇÃO
Desde 1996, a corrupção começou a ser mais detidamente enfrentada por acordos internacionais em diversos países, de modo que o tema ganhou tratamento coletivo na esfera internacional, transformando-se em foco de encontros bilaterais e fóruns promovidos pela Organização das Nações Unidas para jogar luzes em um assunto que tanto corrói o tecido social em diversas frentes.
Nesse tom, o Brasil já ratificou três grandes tratados sobre o tema. São eles:
- a Convenção Interamericana contra a Corrupção, da Organização dos Estados Americanos OEA, adotada em 29 de março de 1996, em Caracas, e promulgada pelo Decreto nº 4.410 em 08 de outubro de 2002;
- a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos OCDE, realizada em 17 de dezembro de 1997, em Paris, e internalizada no Brasil em 30 de novembro de 2000; e
- a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, assinada pelo Governo Brasileiro em 09 de dezembro de 2003 e promulgada por meio do Decreto n° 5.687, de 31 de janeiro de 2006.
Para fins de compreensão deste tópico, realizamos uma apreciação comparativa da nova Lei de Improbidade Administrativa em face da Convenção Interamericana contra a Corrupção e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tendo em vista que referidos normas são Tratados Internacionais de Direitos Humanos, com status de norma supralegal e, portanto, conformadoras da legislação aprovada em território nacional.
1.2. DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A CORRUPÇÃO
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Convenção Interamericana contra a Corrupção foi o primeiro tratado internacional celebrado pela República Federativa do Brasil que cuidou da corrupção dos agentes públicos no âmbito interno dos países signatários, sendo incorporada ao nosso ordenamento jurídico no ano de 2002.1
Cumpre registrar que referido Tratado Internacional de Direitos Humanos TIDH, em seus considerandos, demonstra como a corrupção está diretamente relacionado a vasta gama de direitos fundamentais, visto que mostra ser um conjunto de práticas que degeneram as instituições e corroem o tecido social.
Nesse sentido, vejamos alguns considerandos daquele TIDH:
CONVENCIDOS de que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos;
CONSIDERANDO que a democracia representativa, condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região, exige, por sua própria natureza, o combate a toda forma de corrupção no exercício das funções públicas e aos atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício;
PERSUADIDOS de que o combate à corrupção reforça as instituições democráticas e evita distorções na economia, vícios na gestão pública e deterioração da moral social;
TENDO PRESENTE que, para combater a corrupção, é responsabilidade dos Estados erradicar a impunidade e que a cooperação entre eles é necessária para que sua ação neste campo seja efetiva; (grifos nossos)
Esses considerandos, por si sós, já deveriam ser suficientes para se questionar a validade da Lei nº 14.230/21, que terá adiante seus dispositivos analisados, ponto a ponto, aferindo sua compatibilidade com ordenamento jurídico contemporâneo.
Em seu corpo, a Convenção Interamericana contra a Corrupção fornece, em seu art. 3º, traz o dever de se criar medidas preventivas contra os atos de corrupção ocorridos dentro do território do Estado signatário. No item 1 do referido artigo, a Convenção informa o relevante papel na elaboração de normas que visem impedir a prática de atos de corrupção. Vejamos:
Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os Estados Partes convêm em considerar a aplicabilidade de medidas, em seus próprios sistemas institucionais destinadas a criar, manter e fortalecer:
1. Normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado das funções públicas. Estas normas deverão ter por finalidade prevenir conflitos de interesses, assegurar a guarda e uso adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções e estabelecer medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem as autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. Tais medidas ajudarão a preservar a confiança na integridade dos funcionários públicos e na gestão pública.
Diante desse singelo dispositivo, resta evidenciado que os Estados aderentes ao diploma supranacional, que se comprometeram a combater atos de corrupção, devem adotar políticas voltadas à sua prevenção, de forma contínua e ininterrupta, sem soluços de retrocesso. Mediante compromisso voluntariamente firmado pelo Brasil, este se comprometeu em garantir fenômeno jurídico denominado efeito cliquet no enfrentamento da corrupção.
Segundo esse efeito, as modificações implementadas no ordenamento jurídico somente serão consideradas válidas se efetivamente promoverem o progresso, conforme ideologia anteriormente delineado pelo coletivo de Estados signatários. Assim, a legislação jamais pode regredir, de modo a permitir um tratamento mais brando da matéria.
Como exemplos desse fenômeno de vedação do retrocesso, podemos mencionar medidas voltadas à preservação ambiental, mecanismos de proteção dos Direitos Humanos e medidas de enfrentamento à corrupção. Com efeito, as manifestações emanadas pelo Estado-parte do Tratado Internacional não podem implicar retrocessos nesses campos, sob pena de invalidade da medida ou norma por ele tomada. O único caminho possível é no sentido de intensificação das medidas, nunca sua flexibilização.
Caso o Representante da nação signatária do pacto internacional queira instituir a flexibilização do combate à corrupção, promovendo a impunidade de gestores e políticos corruptos, deve, antes, em conformidade com o Tratado de Viena de 1969, oferecer denúncia2 em relação a todas as Convenções contra a Corrupção das quais o Brasil faz parte.
Voltando-se para as modificações trazidas pela Lei nº 14.230/21, destacamos inicialmente a revogação do art. 4º da Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos o teor do dispositivo mencionado:
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Provavelmente, a primeira indagação que todo jurista se faz ao analisar a Lei nº 14.230/21 é a seguinte: qual a razão da revogação do art. 4º da Lei de Improbidade Administrativa? Claramente se trata de um retrocesso normativo.
O que se espera do Administrador, conforme farta jurisprudência e doutrina sobre a matéria, é o respeito ao ordenamento jurídico, velando o agente público pelo zelo dos princípios basilares da Administração Pública, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no desempenho de suas atribuições.
Diante do que foi dito até aqui, já é possível concluir que:
- A Convenção Interamericana contra a Corrupção trouxe premissas vinculantes no combate constante e evolutivo contra a corrupção;
- Diante dos temas intrinsecamente afetos à pessoa humana, esse Tratado Internacional possui natureza jurídica de Tratado Internacional de Direitos Humanos; e
- Ante a incompatibilidade de qualquer norma interna posterior que conflite com esse diploma, tal dispositivo deve ser afastado em virtude de sua inconvencionalidade com o Tratado.
1.3. DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO
Após a ratificação e promulgação da Convenção Interamericana contra a Corrupção acima tratada, o Brasil cuidou, mais uma vez, de incorporar em seu ordenamento jurídico interno outro diploma internacional de combate à corrupção, dessa vez mais abrangente e envolvendo 188 países signatários3.
Nosso país assinou referido tratado em 9 de dezembro de 2003, sendo esse TIDH efetivamente incorporado à ordem jurídica nacional em 31 de janeiro de 2006. Assim como a Convenção Interamericana, o Tratado celebrado nas Nações Unidas trouxe, em seus considerandos, relevantes aspectos que auxiliam na compreensão das suas diretrizes e objetivos. Vejamos alguns deles:
Preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito;
Preocupados, ainda, pelos casos de corrupção que penetram diversos setores da sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante dos recursos dos Estados e que ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento sustentável dos mesmos;
Convencidos, também, de que se requer um enfoque amplo e multidisciplinar para prevenir e combater eficazmente a corrupção;
Reconhecendo os princípios fundamentais do devido processo nos processos penais e nos procedimentos civis ou administrativos sobre direitos de propriedade;
Tendo presente que a prevenção e a erradicação da corrupção são responsabilidades de todos os Estados e que estes devem cooperar entre si, com o apoio e a participação de pessoas e grupos que não pertencem ao setor público, como a sociedade civil, as organizações não-governamentais e as organizações de base comunitárias, para que seus esforços neste âmbito sejam eficazes; (grifos nossos)
É possível extrair desses considerandos, desde já, que a referida Convenção das Nações Unidas se mostra mais abrangente que a Interamericana, analisada no tópico anterior. Nesse ponto, cumpre ressaltar que aquela trata mais detidamente de outras matérias relacionadas à corrupção, inclusive de cunho não penal, ao passo que esta teve como foco o combate à corrupção pela via penal.
Além disso, desde seu primeiro artigo, a Convenção das Nações Unidas evidencia sua finalidade primordial, ao exigir dos Estados-partes não apenas a prevenção e o combate à corrupção, mas também o eficaz enfrentamento de tais práticas. Nessa toada, é pertinente trazer à baila o artigo 1 do mencionado tratado, o qual esclarece a finalidade da convenção:
Artigo 1
Finalidade
A finalidade da presente Convenção é:
a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção; (grifos nossos)
Ao exigir a promoção e o fortalecimento das medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção o dispositivo demonstra a intenção que subjaz o documento internacional, claramente informando que retrocessos no enfrentamento da corrupção não serão tolerados pela norma supranacional, posto que as medidas preventivas devem ser fortalecidas, mostrando-se indevidas quaisquer tentativas de enfraquecimento dos mecanismos anticorrupção.
Não bastasse isso, essa Convenção previu, em seu artigo 3º, medidas de prevenção, investigação, punição, além de outras aplicáveis aos agentes que pratiquem atos de corrupção. Esse dispositivo trouxe, no corpo da seu texto, a necessidade de se combater veementemente esses ilícitos. E isso só pode ocorrer se, por óbvio, não se permitir que haja retrocesso na legislação que trata do tema.
Nesse sentido, a par do art. 3º, outros dispositivos cuidam, também, de trazer o mandamento de vedação ao retrocesso em seu texto. Nesse tom, e para facilitar a compreensão da ideia de non cliquet e sua aplicação em se tratando da inconvencionalidade da Lei nº 14.230/21, vejamos os principiais dispositivos do Tratado que versam sobre essa proibição de recuo no combate à corrupção:
Artigo 3
Âmbito de aplicação
1. A presente Convenção se aplicará, de conformidade com suas disposições, à prevenção, à investigação e à instrução judicial da corrupção e do embargo preventivo, da apreensão, do confisco e da restituição do produto de delitos identificados de acordo com a presente Convenção.
Artigo 5
Políticas e práticas de prevenção da corrupção
1. Cada Estado Parte, de conformidade com os princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico, formulará e aplicará ou manterá em vigor políticas coordenadas e eficazes contra a corrupção que promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios do Estado de Direito, a devida gestão dos assuntos e bens públicos, a integridade, a transparência e a obrigação de render contas.
Artigo 8
Códigos de conduta para funcionários públicos
6. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de adotar, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, medidas disciplinares ou de outra índole contra todo funcionário público que transgrida os códigos ou normas estabelecidos em conformidade com o presente Artigo.
Artigo 29
Prescrição
Cada Estado Parte estabelecerá, quando proceder, de acordo com sua legislação interna, um prazo de prescrição amplo para iniciar processos por quaisquer dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção e estabelecerá um prazo maior ou interromperá a prescrição quando o presumido delinqüente tenha evadido da administração da justiça.
Artigo 30
Processo, sentença e sanções
1. Cada Estado Parte punirá a prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção com sanções que tenham em conta a gravidade desses delitos.
Artigo 65
Aplicação da Convenção
1. Cada Estado Parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, as medidas que sejam necessárias, incluídas medidas legislativas e administrativas, para garantir o cumprimento de suas obrigações de acordo com a presente Convenção.
2. Cada Estado Parte poderá adotar medidas mais estritas ou severas que as previstas na presente Convenção a fim de prevenir e combater a corrupção.
Da leitura desses dispositivos é possível depreender que a ideia adotada pela Convenção é de se combater a corrupção com toda rigidez necessária à sua erradicação. Por óbvio, essa é uma tarefa assaz difícil de ser concluída, o que exige o comprometimento dos Estados signatários em envidar esforços nesse sentido.
Em artigo intitulado Do Estudo da Convenção de Mérida e Seus Reflexos no Direito Brasileiro, publicado no XXVI Congresso Nacional do CONPEDI de Direito Internacional dos Direitos Humanos, Renata Pereira Nocera afirmou que:
Tratando-se de uma questão social, política e institucional, a corrupção é constante nas relações sociais e institucionais, tanto no âmbito público como privado. Em todo o mundo, há uma tendência crescente para tornar-se ciente de que a luta contra a corrupção é essencial para alcançar uma sociedade mais justa e eficiente.
Nossa legislação e jurisprudência, até bem pouco tempo, vinha caminhando nesse sentido de combate severo aos atos de corrupção praticados pelos agentes públicos. A punição exemplar de gestores por atos violadores de princípios da boa Administração e a atuação de membros do Ministério Público e agentes e delegados da Polícia Federal na operação Lava-Jato geraram a sensação no povo brasileiro de que a corrupção estava caminhando para a erradicação no Brasil.
Entretanto, nos últimos cinco anos o Brasil passou por sérios contratempos nessa seara, de modo que operações anticorrupção foram desmanteladas sob pretexto de excessos cometidos, bem como novas leis mais flexíveis para o administrador corrupto foram elaboradas.
Sendo o Brasil um dos 188 países signatários, houve, desde o ano de 2003, um comprometimento de nossa nação ao combate vigoroso contra esse mal que assola o Estado brasileiro. Não obstante, leis que contrariam a hierarquia desse Tratado encontram-se, atualmente, em processo de aprovação ou já aprovadas em nosso território, como é o caso da famigerada Lei nº 14.230/21, que afronta diretamente a supralegalidade desse TIDH.
A convenção da Nações Unidas contra a corrupção, tal qual a Convenção Interamericana contra a Corrupção, possui natureza jurídica de Tratado Internacional de Direitos Humanos. Nesse tom, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos HC 82.959 e RE 466.343, tais normas possuem status de supralegalidade, estando acima das leis (atos normativos primários) e abaixo da Constituição Federal.
Assim, uma vez que os TIDH encontram-se acima das espécies normativas promulgadas internamente e previstas no art. 59, incisos II a VII da Carta Magna, faz-se necessário, antes da aplicação irrestrita das Leis pelo Poder Judiciário, a análise conformativa de seus dispositivos em face dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos promulgados e em vigor nessa mesma ordem jurídica.
2. DOS DISPOSITIVOS INCONVENCIONAIS E INCONSTITUCIONAIS DA LEI Nº 14.230/21
Art. 1º
Em virtude do princípio de vedação ao retrocesso, este artigo, ao suprimir a modalidade culposa dos atos de improbidade que importem em prejuízo ao erário, tornou-se inconvencional por violação frontal aos arts. 1º, item 1; 3º, item 1; 5º; 8, item 6; 62, item 1; e 65, item 2, todos da Convenção da Nações Unidas Contra a Corrupção, ratificada pelo Brasil no ano de 2006.
Quanto ao parágrafo segundo do mesmo artigo, podemos observar uma enorme contradição. Nesse sentido, apesar de explicar de forma correta, do ponto de vista do Direito Penal, o conceito de dolo, faz, em sua parte final, alusão de que para a caracterização do dolo não basta a voluntariedade do agente, sem fornecer o outro necessário elemento. Tal posicionamento da parte final da norma trouxe, além de imprecisão técnica da natureza jurídica da ação de improbidade administrativa, ausência de complementação dos elementos do dolo. Ora, se dolo é vontade livre e consciente não bastando a voluntariedade do agente, o que mais seria necessário? A lei não explica nesse dispositivo.
Outro ponto que merece atenção é o §4º do art. 1º, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Em que pese na leitura desse dispositivo, lido separadamente, não haver grandes questões jurídicas que devamos nos preocupar, é possível perceber que a nova Lei de Improbidade Administrativa possui artigos que nos levam a caminho diverso do pretendido pelo art. 1º, §4º, neste sentido o art. 17. (analisaremos mais adiante) é taxativo ao prever a aplicação do Código de Processo Civil ao processo de responsabilização do agente por ato de responsabilidade. Enquanto este dispositivo nos remete ao Direito Civil, o parágrafo em análise (art. 1º, §4º) nos remete ao direito administrativo.
Para tornar a situação ainda mais complexa, a própria Lei 14.230/21, quando da justificativa de seu Projeto de Lei trouxe a seguinte afirmação:
Não é razoável manter-se questões de estado ao alvedrio das alterações políticas e nem tratar questões de ato de improbidade como se administrativas fossem.
Não bastasse isso, o art. 17-D é incisivo ao afirmar que a ação de improbidade administrativa não constitui ação civil. Mais adiante faremos melhor explanação acerca da natureza jurídica da ação de improbidade administrativa.
Art. 3º
Passando à análise do art. 3º, ficou notório que a inserção das pessoas jurídicas para serem responsabilizadas por atos de improbidade respeitou as Convenções das quais o Brasil faz parte. Ou seja, o artigo 3º expandiu o rol do art. 2º, estabelecendo que a pessoa jurídica que pratique ato de improbidade poderá ser responsabilizada com as sanções compatíveis com sua situação. Nesse ponto, louvável o movimento realizado pelo legislador infraconstitucional.
Por outro lado, grave equívoco cometeu o legislador ao querer restringir, conforme se verá adiante, a eficácia da sentença que proíbe a pessoa jurídica de contratar com o Poder Público apenas ao âmbito territorial do município no qual o ato foi praticado.
Arts. 9. e 10
No que diz respeito aos arts. 9º e 10 da Lei 8.429/92, após as alterações trazidas pela Lei 14.230/21, observa-se da leitura desses dispositivos que o legislador manteve a expressão e notadamente, ou seja, continuou o rol dos artigos sendo meramente exemplificativo, podendo, desse modo, haver hipóteses que não estejam previstas nos seus incisos, mas que possam ser perseguidas por seus legitimados. Bastando, portanto, para sua configuração a mera disposição inserida no caput.
Nesse ponto, importante fazer significativa ressalva quanto aos atos de improbidade que importem enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
Atos de improbidade administrativa, regra geral, podem ser praticados das mais diversas formas pelos gestores da máquina pública. Por essa razão que, desde seu nascedouro, a Lei 8.429/92 nunca ousou prever taxativamente todas as hipóteses de improbidade que pudessem ser praticadas. Nem poderia.
A experiência cotidiana vem demonstrando que, a cada ano que se passa, novas formas de se enriquecer às custas do patrimônio público vem sendo desenvolvidas por gestores ímprobos, razão pela qual o que efetivamente constitui o ato de improbidade são: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios da Administração Pública, pouco importando a forma de seu cometimento.
Ademais, a mudança operada no art. 10. da LIA, qual seja, a retirada da modalidade culposa, operou, a nosso ver, manifesto retrocesso no combate à corrupção.
De uma leitura da justificativa do projeto de Lei é possível atestar o equívoco do legislador ao suprimir esse dispositivo. Em sua justificativa, alega-se vagamente que atos decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia seriam por demais banais para serem sancionados pela Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido vejamos um trecho da justificativa do Projeto que culminou com a Lei nº 14.230/21:
Bastante significativa é a supressão do ato de improbidade praticado mediante culpa.
De um atento exame do texto, pari passu da observação da realidade, conclui-se que não é dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícitos administrativos que se submetem a sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil quanto ao ressarcimento.
O que se compreende neste anteprojeto é que tais atos desbordam do conceito de improbidade administrativa e não devem ser fundamento de fato para sanções com base neste diploma e nem devem se submeter à simbologia da improbidade, atribuída exclusivamente a atos dolosamente praticados.
Entendemos que essa justificativa fornecida pelo legislador ordinário não se sustenta a ponto de extirpar do sistema de repressão de atos ímprobos a conduta culposa do gestor. Dessa forma, a remoção da modalidade culposa operou, inequivocamente, odioso retrocesso ao sistema de combate aos atos de improbidade.
A conduta culposa não pode, prima facie, ser afastada pelo legislador sob o fundamento que todo ato culposo que gere prejuízo ao erário não deve ser considerado ímprobo. Nesse tom, o Administrador tem o dever de conhecer as normas e agir de acordo com elas. Ao desviar sua conduta deve ser responsabilizado, independente de ter cometido o ato dolosa ou culposamente.
Determinadas condutas culposas cometidas por gestores e agentes públicos podem ter elevada gravidade, merecendo repressão rigorosa pelo ordenamento jurídico, inclusive pela sistemática dos atos de improbidade. Nesse sentido, podemos citar como exemplo ato culposo grave, merecedor de reprovação com ato de improbidade, fato ocorrido no dia 05 de abril de 2021, na cidade de São bento do Una, onde 2.805 doses de vacina contra o agente patogênico COVID-19 foram desperdiçadas por armazenamento inadequado das vacinas ocasionado por conduta culposa dos agentes de saúde.
Entendemos como retrocesso a retirada dos atos de improbidade culposos que gerem prejuízos ao erário. O Administrador sabe de seus deveres e obrigações no exercício do cargo. Desvios de conduta que causem prejuízos ao patrimônio público devem ser sancionados, mesmo quado tenham sido praticados culposamente.
Por essa razão, o dispositivo do art. 10. da Lei de Improbidade Administrativa se mostra violador dos preceitos constantes dos arts. 1º, alínea a, 3º, item 1, 5º, itens 1 e 2, 8º, item 6, 62, item 1, e 65, itens 1 e 2, todos da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
Art. 11
Uma simples leitura do dispositivo e dos artigos científicos já publicados sobre o tema já nos informa ser o art. 11. da LIA um dos mais discutidos quando da reforma operada pela Lei nº 14.230/21. Importante mencionar que ainda não há posição assumida pelos Tribunais Superiores sobre a validade desse dispositivo. Entretanto, iremos expor a que entendemos ser mais benéfico à sociedade e compatível com a Constituição Federal e as Convenções das quais o Brasil é signatário.
Tal discussão se mostra necessária, pois a Nova Lei trocou a expressão e notadamente, existente nesse dispositivo quando de sua redação original, por caracterizada por uma das seguintes condutas. Desse modo, observa-se que o legislador pretendeu disciplinar as condutas do art. 11. em um rol taxativo.
A repercussão dessa modificação no mundo jurídico ocorre porque, na prática, o art. 11. era uma vala comum de atos ímprobos, ou seja, quando a conduta não se enquadrava nos artigos 9 ou 10, mas violasse frontalmente preceitos normativos de nosso ordenamento jurídico, caberia o enquadramento da conduta ímproba por violação de algum princípio, principalmente pelo agora revogado inciso I (praticar ato visando fim proibido em lei). No entanto, com a taxatividade e consequente revogação desse dispositivo não haveria mais tal cabimento. Resta-nos identificar se tal taxatividade segue os parâmetros assumidos pelo Brasil.
O professor Emerson Garcia, em aula ministrada no 18º Reunião do Fórum Permanente de Transparência e Probidade Administrativa5, afirmou que se deve respeitar a vontade dos legisladores, pois eles são os representantes do povo, bem como que, ao especificar a conduta ímproba que viole os princípios, não teria ele operado esvaziamento da improbidade por violação de princípios, mas sim uma nova perspectiva. Em que pese essa fundamentação, entendemos que esse dispositivo não se sustenta por diversos motivos.
Após a análise do art. 11, entendemos que se trata de um dispositivo eivado de dupla pecha de invalidade, por ser simultaneamente inconvencional e inconstitucional. Vejamos os motivos dessa nossa compreensão.
No que diz respeito à inconstitucionalidade do dispositivo, entendemos ser a norma inconstitucional por violação do princípio da isonomia. Nesse sentido, ao prever, em rol taxativo, as hipóteses caracterizadoras de improbidade administrativa por violação de princípios, o legislador deixou de fora uma plêiade de casos igualmente relevantes, quiçá mais graves, sem qualquer punição pela Lei 8.429/92. Em verdade, tais hipóteses não especificadas sequer podem ser consideradas como improbidade administrativa.
Por se tratar de artigo que versa sobre atos de improbidade por violação de princípios, normas genéricas e abstratas por sua própria natureza, é impossível a previsão de todas as formas de sua violação em um rol taxativo. Ademais, por mais que se faça um esforço hermenêutico para se prever todas as hipóteses e, destas, elencar as mais graves para figurarem no rol do art. 11. da LIA, sempre existirão hipóteses outras, não pensadas pelo legislador, e que se mostrem tão graves quanto, ou mesmo mais graves, que aquelas por ele previstas.
Além disso, a mera valoração das condutas, por quem quer que seja, sempre estará sujeita à relativização de sua gravidade, a depender do parâmetro utilizado pelo intérprete para afirmar que uma ação é mais ou menos grave que outra.
Esse dispositivo gerou séria discriminação em relação aos gestores, posto que agora será possível a punição de um administrador de um município que viole expressamente um dos poucos incisos trazidos pelo art. 11. da lei, enquanto o gestor do ente federativo limítrofe àquele, que praticou diversos atos não expressamente previstos na norma em estudo, sairá ileso, não respondendo a qualquer processo de improbidade pelos atos praticados.
A redação do dispositivo gerou evidente tratamento díspar entre pessoas que praticaram ações violadoras de preceitos principiológicos da Administração Pública. Por essa razão, não vemos como tal dispositivo se manteria válido e vigente, uma vez que ataca frontalmente o dispositivo constante do art. 5º, inciso II da Constituição Federal.
Já no que tange à convencionalidade da lei, importante repisar que o Brasil assumiu compromissos nas Convenções Internacionais contra a Corrupção (OCDE, OEA, ONU) internalizadas como normas supralegais. Ou seja, o Brasil ratificou Convenções que tem como finalidade o impedimento ao retrocesso no combate à corrupção e, consequentemente, à improbidade. São exemplos dessa vontade do estado brasileiro os decretos nº 4.410 e 5.687, de 7 de outubro de 2002 e 31 de janeiro de 2006, respectivamente.
Neste sentido, ao analisarmos a literalidade do disposto no art. 11, observa-se que essa alteração visou enfraquecer o combate aos atos de corrupção quando praticados violando-se princípios constitucionais da Administração Pública. Não houve o mínimo de zelo pela teoria da norma. Além disso, o dispositivo trouxe incoerência lógica à sua própria disposição, posto que, no que tange à hermenêutica envolvendo princípios, enquanto normas gerais e abstratas, é humana e cognitivamente impossível especificar todas as condutas relacionadas a determinada norma principiológica. Qualquer tentativa nesse sentido está fadada ao fracasso, tendo em vista haver a possibilidade de esquecimento de alguma conduta que, igualmente, viola a norma.
No entanto, o caso fica ainda mais grave quando trazemos essa hermenêutica para o mundo jurídico-administrativo, pois, como já dito, não haverá a possibilidade de esgotar todas as condutas em um texto legal, haja vista a ampla gama de possíveis condutas atuais e futuras a serem praticadas por gestores ímprobos e que venham a corroer a norma-princípio que o ordenamento jurídico visa proteger.
Além disso, no art. 65, item 2 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, há expresso mandamento no sentido de se impedir o retrocesso6. No entanto, observa-se que a nova Lei afronta diretamente tais institutos ao afastar a maior gama de ações dos gestores que praticarem atos de improbidade na modalidade do art. 11. da LIA. Assim, no que tange a esse dispositivo, sua taxatividade não promove ou fortalece as medidas de combate a Corrupção, mas, pelo contrário, a fragiliza.
Dessa forma, fica evidente a afronta que faz a Lei 14.230/2021, tanto à Carta Magna quanto às Convenções das quais o Brasil figura como Estado signatário. Desse modo, como forma de manutenção dos bens jurídicos tutelados por Tratados Internacionais, entende-se que o caráter taxativo descrito nas condutas que afrontam princípios é, também, inconvencional. Tendo em vista, a impossibilidade de taxar princípios e, também, a impossibilidade de restringir as medidas para prevenir e combater eficazmente a corrupção.
Outro ponto que merece destaque é o §1º do artigo em análise, no qual se afirma que
Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
Percebe-se, aqui, que houve manifesto equívoco do legislador, isso poque, nessa Convenção, em seu texto, nada se fala especificamente quanto a ato de improbidade. Além disso, A ideia da reforma em nada se coaduna com o conteúdo e ideologia seguido pelo Tratado Internacional.
Quando essa Convenção especifica um determinado tema, ele o faz tratando de delito, ou seja, condutas com reflexo penal. Temerária e sem base a alegação de que a Lei 14.230/21 estaria em conformidade com a Convenção, pois não está!
Por fim, o artigo 11, em seu parágrafo 5º trouxe uma forma específica de conduta violadora do princípio da impessoalidade, qual seja, nepotismo, como ato de improbidade, mas com uma série de ressalvas. Mesmo antes de essa Lei considerar esse fato como violado de princípio, essa ilícito já era punido e o agente que o cometesse considerado ímprobo em nosso ordenamento jurídico, sobretudo em decorrência da Súmula Vinculante nº 13 do STF.
O ato de contratar e favorecer parentes com cargos na Administração Pública é considerado por aquela Excelsa Corte como violador dos preceitos constitucionais, a ponto de maioria qualificada dos ministros votarem pela edição de uma súmula vinculante. No entanto, tal ponto da Lei ressuscitou essa prática envolvendo-a em várias blindagens, de modo a tornar a proibição da súmula vinculante quase inaplicável, pois, apesar de no inciso XI ter ocorrido a transcrição literal daquele enunciado do STF, em seu §5º instituiu que Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, cabendo ao MP provar que além do vínculo parental a indicação visava um fim ilícito. Tal ônus não é previsto na Súmula Vinculante.
Ao agir dessa forma, o legislador buscou tornar letra morta dispositivo claro e evidenciado por inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. Foi uma forma de blindar o administrador ímprobo das ações da mais alta Corte Jurisdicional desse país no que diz respeito ao favorecimento de familiares com cargos públicos.
Art. 12
Quanto às alterações sofridas no artigo 12, cumpre mencionar que, em relação aos atos que atentam contra os princípios administrativos, atualmente INEXISTE a sanção de perda da função e suspensão dos direitos políticos. No entanto, as alterações não se limitam a isso.
Em seu §1º, observa-se que se trata de mais um dispositivo inconvencional e inconstitucional. Remetemo-nos, novamente, à leitura do disposto no tópico anterior, que fala da vedação ao retrocesso e da inconstitucionalidade do art. 11. Isso porque, ao dispor que a perda da função pública somente atingirá o cargo ao qual detinha poder na época dos fatos, verifica-se a criação de uma espécie de prerrogativa funcional incompatível com o disposto pelas Convenções ratificadas pelo Brasil.
As atribuições e o status do cargo ocupado pelo gestor não pode servir de obstáculo à sua punição por desvios cometidos em seu exercício. O ato ímprobo recai sobre a pessoa e não sobre o cargo ao qual o agente estava vinculada. Nesse tom, a própria LIA informa, em seu art. 17-D, que as sanções da Lei possuem caráter pessoal.
Desse modo, portanto, inconvencional e inconstitucional restringir a eficácia da punição apenas nas situações em que o agente permanece no mesmo cargo nos quais foram praticados atos ilícitos. Isso gera retrocesso e viola o princípio da isonomia, já que atos idênticos de improbidade, quando praticado por gestores que não estão mais no mesmo cargo que gerou o ato poderão permanecer ilesos no domínio da máquina pública.
No que tange à inconvencionalidade, é evidente o intuito de manter o agente ímprobo blindado de eventuais punições pelo Poder Judiciário.
Explico. Segundo o painel eletrônico Justiça em Números7, do Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio de baixa definitiva de processos é de 6 anos e 7 meses de tramitação, o que já excede bastante o mandato de 4 anos da maioria dos cargos eletivos. Sendo assim, exigir que a sanção seja aplicada apenas àqueles gestores que ainda permaneçam no mesmo cargo em que cometido o ato ímprobo equivale a evidente retrocesso no combate à corrupção, sobretudo quando, repise-se, a improbidade é um ilícito de cunho pessoal, e não do cargo no qual o ilícito foi consumado.
Por fim, referido dispositivo se mostra, também, inconstitucional, pois cria uma nova espécie de prerrogativa funcional não expressamente prevista na Carta Magna de 1988. Como dito linhas acima, não pode a lei limitar uma sanção com base em requisitos outros que não diretamente ligados ao agente ímprobo. Exigir que ele ainda esteja no cargo em que fora praticado o ato ímprobo operaria uma prerrogativa funcional e uma limitação desarrazoada à punição do agente.
Por essa razão, entendemos que esse dispositivo está, simultaneamente, em desconformidade com o ordenamento jurídico constitucional, bem como afronta normas supralegais consistentes em Tratados internacionais de Direitos Humanos.
Outra espécie de retrocesso, previsto nas alterações pela Lei 14.230/2021, está disposto no §4º do mencionado artigo, pois, segundo ele, em regra, deverá ocorrer a suspensão da proibição de contratação somente no ente público lesado e, apenas em caráter excepcional, tal proibição se estenderá aos outros entes. In verbis:
§ 4º Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no § 3º deste artigo.
Registre-se a impropriedade desse dispositivo, uma vez que a exceção trazida por esse dispositivo carece de uma regra específica. Ou seja, nos incisos do art. 12, ao se falar em proibição de contratar com o poder público, inexiste limitação territorial para a decisão judicial. Ela vem demonstrada apenas no §4º, que traz uma exceção a essa regra implícita.
É evidente que um agente declarado ímprobo por uma autoridade judicial é ímprobo em todo território nacional. Estamos aqui diante de uma tentativa absurda de limitar os efeitos da sentença judicial prolatada por Magistrado legitimamente competente para imposição de sanções da lei.
Situação similar já foi analisada quando do julgamento do art. 16. da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85). Na ocasião, discutia-se se a norma legal poderia limitar territorialmente os efeitos da sentença. Julgando o EREsp nº 1.134.957/SP, os ministros daquela Corte decidiram que a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não ficam limitadas territorialmente. Não poderia ser diferente o entendimento daqueles magistrados superiores. A decisão judicial é válida em todo território nacional, uma vez que a jurisdição não pode ser constrita no espaço. Absurda a ideia defendida pelo legislador quanto ao dispositivo do art. 12, §4º da LIA.
Observa-se o retrocesso presente nesse ponto, pois, a título de exemplo, imaginemos uma empresa possui contratos com o Poder Público em diversas cidades. Caso haja sentença por ato de improbidade em uma delas, somente esta será atingida. Desse modo, têm-se que, apesar de considerado impedido de realizar contratos com a Administração Pública, diante do cenário traçado pelo legislador infraconstitucional, poderá esse agente contratar livremente com entes vizinhos e manter seus contratos anteriores, como se probo fosse.
Importa mencionar que, apenas em caráter excepcional, houve previsão de que a sanção poderá se estender a outros entes federativos. Todavia, tal caráter de excepcionalidade é, por si só, um retrocesso às convenções ratificadas por nosso país e um desrespeito às decisões judiciais legitimamente prolatadas.
Art. 17
O referido art. 17. da Lei de Improbidade Administrativa, a par de reger o procedimento da lei pelo Código de Processo Civil, reduziu o rol de legitimados para propor esta ação. A partir da reforma operada pela Lei nº 14.230/21, apenas o Ministério Público passou a figurar como legitimado exclusivo para promoção da ação civil de improbidade administrativa. Repise-se que, antes da alteração promovida pela mencionada norma, a legitimidade era repartida entre Ministério Público e Pessoa Jurídica de Direito Público lesada.
Referida alteração se mostra incompatível com a normativa internacional e, não bastasse isso, representa incoerência lógica do sistema, uma vez que retira a legitimidade daquele que figura com maior interessado na demanda o ente público lesado.
Como se sustentar que a Pessoa Jurídica de Direito Público lesada não possui legitimidade para perseguir o agente ímprobo, que manchou sua imagem e gerou prejuízo aos cofres públicos? Não bastasse essa incoerência inicial na legitimidade para demandar, a nova lei agrava esse quadro ao retirar a legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação judicial de sentença condenatória, entregando-a, apenas nesse momento e por prazo certo de seis meses, ao ente público lesado.
Ao assim agir, o legislador ordinário afirma que o ente público não tem legitimidade para propor a ação, mas tem para promover a liquidação de sentença. Ora, legitimidade não se fragmenta ao bel prazer de quem faz as leis. Ou se tem ou não se tem legitimidade para o processo!
Por essas razões, observa-se que tal dispositivo é também inconvencional e inconstitucional. Importa mencionar que, já no caput do artigo analisado, há um retrocesso ao Combate à Corrupção, pois o artigo 17 da LIA restringiu a legitimidade para tutela do Patrimônio Público e sanção dos agentes ímprobos. Ademais, importa mencionar ainda que, cabendo somente ao MP atuar como legitimado ativo contra os atos de improbidade, é possível que atos ilícitos demorem mais a serem descobertos, sobretudo nas cidades em que o membro do Ministério Público exerce atribuições plenas para todas as matérias de atuação ministerial (saúde, educação, patrimônio público, consumidor, criança e adolescente, dentre várias outras), trazendo com isso um maior risco de impunidade aos agentes mal intencionados.
Já a inconstitucionalidade reside na violação do devido processo legal, uma vez que o legislador infraconstitucional retira e devolve a legitimidade do ente público lesado ao seu bel prazer e sem razões jurídicas que justifiquem tamanha discricionariedade.
Ademais, importa mencionar o §10-F, da forma como redigido, sem qualquer ponderação quanto à atuação leal das partes do processo, viola a independência funcional dos magistrados. Dessa forma, ao tornar nula a sentença que condenar o agente sem a produção das provas por ele requerida tempestivamente, a lei obriga o magistrado à produção probatória sem a possibilidade de indeferimento, por mais impertinentes e irrelevantes que sejam.
Explicando em maiores detalhes, mesmo que o magistrado entenda que uma prova requerida se apresenta como impertinente, ainda assim seria obrigado a produzi-la, pois, a consequência para sua não produção, de acordo com o dispositivo em comento, é a nulidade de sua decisão. Tal dispositivo reclama, ao menos, interpretação conforme a Constituição Federal, a fim de evitar afronta à independência dos Juízes.
Quanto ao §19, observa-se outro retrocesso, no que tange a seus incisos. No inciso primeiro, afirma-se que não se aplicará à ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia.
A revelia, conforme lição de Luiz Guilherme Marinoni, pode ocorrer de duas formas. Vejamos:
De acordo com o direito brasileiro, há duas situações que podem ocasionar a revelia, cada qual dependente do tipo de procedimento que se adota. Dessa forma, em se tratando de procedimento ordinário, a revelia opera-se diante da falta de contestação produzida pelo réu no prazo que se lhe concede para a defesa (art. 319. do CPC); já se o procedimento adotado for o sumário, então a revelia decorrerá da ausência injustificada do réu à audiência preliminar e de não apresentação de contestação.
Ocorre que, de acordo com o CPC/15, a revelia não operará efeitos quando houver interesses indisponíveis envolvidos no caso concreto. Tal exceção, entretanto, deve ser interpretada cum grano salis.
É preciso levar em conta que o legislador, ao prever a revelia, seus efeitos e sua exceção quando direitos indisponíveis estiverem em jogo, buscou conferir maior segurança àquele que titulariza esse direito. Sobre a indisponibilidade do direito, imprescindível a lição de Costa Machado sobre o tema. In verbis:
Direitos indisponíveis são aqueles direitos cuja realização interessa à própria sobrevivência e manutenção da sociedade, à própria existência do Estado, embora seus titulares sejam particulares (direito de família, direitos de personalidade, etc). Os direitos públicos, como regra geral, são indisponíveis (direito administrativo, penal, previdenciário). Direitos indisponíveis, tecnicamente, são os que encontram regramento jurídico nas chamadas leis de ordem pública e cujas características básicas são as seguintes: inalienabilidade, intransigibilidade, irrenunciabilidade, impenhorabilidade, não sujeição a reconhecimento judicial no processo e à confissão e a realizabilidade obrigatória em muitos casos.1
A revelia, conforme ampla lição doutrinária sobre a matéria, não operará seus efeitos típicos em benefício de quem TITULARIZA o direito indisponível. E, além disso, o inciso II desse parágrafo afirma que caberá ao MP o ônus da prova. Não se mostra razoável afastar a presunção de veracidade dos fatos e o julgamento antecipado contra quem deliberadamente se mostrou inerte no curso do processo e não possui qualquer relação de titularidade com o bem jurídico indisponível. Nesse sentido:
Ação de Alimentos. Ausência do réu à audiência de conciliação e julgamento. Revelia reconhecida. Procedência da ação. Arbitramento dos alimentos em 1/3 dos rendimentos líquidos do alimentante. Fixação que observou o binômio necessidade do alimentado e capacidade do alimentante. Sentença Mantida. Recurso Improvido. (…) Com efeito, ao receber o ato citatório, de imediato obteve ciência de que: “… ficando advertido de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados na inicial pelo requerente, sendo o prazo para eventual contestação em audiência, através de advogado, sob pena de confissão e revelia” (fls. 09v) e, descurando-se de tais providências, há de suportar os efeitos do artigo 319 do código de processo civil dando-se como verdadeiro os fatos articulados na inicial (…)
(TJ/SP Apelação Cível nº. 512.173-4. Rel. Des. Egídio Giacoia. Jul. 8.11.2008.)
O agente público ímprobo NÃO é o titular do direito indisponível em apreciação. Este pertence à pessoa jurídica de direito público lesada Nesse ponto, ratificamos novamente um verdadeiro retrocesso às Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil, posto que a Lei 4.230/21 confere mais uma benesse ao agente corrupto.
Outro questionamento pertinente ao artigo em análise reside em seu art. 17, §20, ao afirmar que a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Tal dispositivo chega a ser ofensivo à liberdade de atuação dos órgãos de assessoria dos entes federados (Procuradores municipais, estaduais, Federais, da Fazenda e Advogados da união), pois tolhe qualquer autonomia na formação do seu convencimento quanto à matéria anteriormente apreciada.
Em que pese os integrantes da carreira de advocacia pública não possuírem independência funcional no exercício de suas atribuições, é inegável que esses cargos, de alta relevância para a gestão pública e, também, para o sistema judicial, devam conferir um mínimo de autonomia de seus agentes. Essa autonomia foi aniquilada pela Lei 14.230/21 ao obrigar aqueles que desempenham tais atribuições a defender, custe o que custar, um ato potencialmente ímprobo.
Em outras palavras, o dispositivo constante do §20 obriga, na base do cabresto, órgãos técnicos de análise jurídica a defender, não importa a qual custo, os atos do gestor ímprobo, mesmo quando o entendimento pessoal do profissional não esteja em sintonia com o anteriormente exarado em parecer.
Art. 17-B
Passando por um breve histórico, a Lei n. 8.429/92 vedava, em sua redação original, a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Em 2019, conforme a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, Lei Anticrime, a redação do § 1º, do art. 17, foi alterada para admitir o acordo de não persecução cível (ANPC) nas ações de improbidade. Contudo, toda a regulamentação para o acordo foi vetada, pois só o MP tinha recebido a legitimidade para a sua celebração. À época, a Pessoa Jurídica de Direito Público também tinha legitimidade para a propositura da ação e gozava de prestígio perante o Poder Legislativo nacional. Com a Lei nº 14.230/21 foram reinseridos os dispositivos vetados que permitem o acordo de não persecução cível.
No entanto, em que pese haver a previsão do ANPC, a Nova Lei trouxe uma violação à independência funcional do MP. Isso porque, como é sabido, o ANPC tem caráter extrajudicial, sendo realizado pelo Ministério Público antes do ajuizamento do processo. Caso o acordo seja celebrado no curso de uma ação judicial, inevitavelmente possuirá outra natureza jurídica – de transação – sendo, portanto, necessário passar pelo crivo jurisdicional para sua celebração e posterior homologação com fulcro no art. 487, III, b do CPC.
Ocorre que a nova lei traz a homologação judicial como requisito prévio para a conclusão do acordo extrajudicial. Ou seja, passa a lei a exigir subordinação do Órgão Ministerial ao Poder Judiciário em feito que sequer está sob sua apreciação.
Não bastasse isso, e ressalte-se que a nova Lei de Improbidade Administrativa expressamente prevê aplicação do Código de Processo Civil a seu procedimento, NADA foi dito quanto a eventual discordância entre o Ministério Público e o Judiciário e, consequentemente, não haja homologação judicial. Inviável do ponto de vista prático a execução dessa etapa procedimental à viabilização dos acordos celebrados extrajudicialmente entre Ministério Público e agente público em casos de improbidade administrativa, sobretudo pela impossibilidade de se aplicar a sistemática processual penal subsidiariamente ao processo civil.
Por fim, outra grave incoerência da norma encontra-se plasmada no §3º do art. 17-B. Segundo essa norma, para fins de apuração do valor exato do dano “deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente”. Essa apuração do valor através do Tribunal de Contas competente transformou essa altiva Corte em mero contador do juízo. Não bastasse isso, o exíguo período de 90 (noventa dias) é por demais curto para manifestação desse Tribunal, tornando de difícil concretização e suscitando arguição de nulidades em virtude de sua não realização nos autos por parte da defesa.
Art. 17-D
No que diz respeito ao art. 17-D, aqui reside a maior inconsistência da lei, uma vez que retira do procedimento sua natureza jurídica de ação civil.
Segundo dispõe o mencionado artigo
Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Conforme preceitua o art. 37, §4º da Constituição Federal, sabemos que a ação de improbidade NÃO possui natureza jurídica de ação penal. Nesse sentido, a norma constitucional é taxativa ao afirmar que os atos de improbidade importarão determinadas sanções, “sem prejuízo da ação penal cabível”. Ora, se a própria Carta Magna ressalva a ação penal é porque a ação de improbidade administrativa NÃO possui natureza jurídica penal.
Igualmente a norma não possui natureza jurídica administrativa. Caso assim não fosse, o Ministério Público não possuiria legitimidade para esse procedimento, uma vez que claramente não figura na linha hierárquica para fins de aplicação de sanção administrativa, tampouco possuiria legitimidade para propor processos administrativos disciplinares.
A par da obviedade de não se tratar de procedimento administrativo, e do ditame constitucional de que, igualmente, não se trata de ação de cunho penal, não resta outra solução senão considerar o dispositivo equivocado e aferir que a ação de improbidade possui natureza jurídica de ação civil.
Óbvio que essa ação possuirá natureza diversa da ação de cunho coletivo, que busca a tutela focada em interesses difusos e coletivos, mas, ainda assim, será inquestionavelmente uma ação de cunho civil.
Essa natureza jurídica implica em uma série de consequências, dentre elas a irretroatividade da lei para atingir atos ilícitos praticados anteriormente à edição da norma. Não possuindo caráter penal, não há se falar em retroatividade de norma mais benéfica ao agente, fenômeno tipicamente do Direito Penal.
Aliás, tal linha argumentativa se mostra, por si só, inconvencional, pois, defender retroatividade da norma mais benéfica ao agente ímprobo e corrupto é, em verdade, mitigar o combate à corrupção e ferir de morte o disposto no art. 65, item 2 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.
Art. 23
Antes de adentrarmos na mudança empreendida pela nova legislação quanto ao prazo prescricional, importa relembrar que, segundo o STF, no Tema 897, “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
No que diz respeito às ações de improbidade, por outro lado, nossa legislação pátria segue caminho diverso, instituindo regras acerca da prescrição que tendem à impunidade. Nesse sentido, o art. 23, contrariando toda a sistemática material e processual civilista, trouxe a teoria do dies a quo da esfera penal para a civil. Segundo essa teoria, o prazo prescricional inicia sua contagem da data de ocorrência do fato.
Ou seja, a legislação desconsiderou, a um só tempo, a teoria da actio nata, típica do Direito Civil, segundo a qual o prazo prescricional tem seu início com o descobrimento da prática do ato ilícito, e a teoria anteriormente vigente, na qual o prazo prescricional se iniciava a partir do término do mandato ou conforme previsão legal para faltas disciplinares dos servidores públicos.
Estamos caminhando, portanto, em terreno fértil para consagração da impunidade em nosso ordenamento jurídico, permitindo que a prescrição para o mais grave ato de improbidade comece a correr antes que qualquer agente de fiscalização tenha conhecimento de seu ato. Isso confere tempo precioso ao agente corrupto e põe em risco a integridade e higidez da pessoa jurídica de direito público e o erário.
Dessa forma, a maior consequência que se poderá chegar será fruto não de uma ação de improbidade, mas de ação de ressarcimento ao erário pelo prejuízo causado, sem nenhuma consequência jurídica para aquele agente que praticou intencionalmente os atos ilícitos.
Quanto à ampliação do prazo para 08 (oito) anos contados da realização do ilícito, tornou-se, na prática, um prazo menor do que o que anteriormente existia, já que a disposição antiga tinha como termo inicial o término do mandato do gestor, no qual o risco de ingerência sobre o ocultamento do ato se mostra menor.
Em seguida, observa-se que foi inserida outra espécie de prescrição processual, não prevista anteriormente, denominada prescrição intercorrente. Importa mencionar desde já que se trata de um dispositivo inconstitucional e inconvencional. Esse tipo de prescrição não incide na propositura da ação, mas sim no curso das ações em processamento. Quanto a essa espécie de prescrição o § 5º disciplina que o prazo será contado da metade (quatro anos) a partir do último ato interruptivo da prescrição.
Importa mencionar que tal previsão foi de encontro à posição pacífica do STJ, que, regra geral, não reconhecia a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente nas ações de improbidade e deixava de reconhecê-la por não restar comprovada a inércia do autor da ação, no caso do MP.
Além disso, ao aceitar a prescrição intercorrente estaríamos adotando uma teoria mais benéfica que aquela aplicada para crimes. Entendemos esse dispositivo inconstitucional, em se tratando de ações de improbidade, por ausência de razoabilidade para sua fixação, sobretudo quando é de conhecimento amplo das dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário para oferecer uma decisão definitiva (com trânsito em julgado) dentro do exíguo prazo de 04 (quatro) anos.
Não bastasse isso, parece-nos que a inconvencionalidade desse dispositivo é manifesta, uma vez que resultará em massiva decretação de prescrição de feitos cujo objeto é a responsabilização dos gestores por atos ímprobos. Além disso, o intuito manifesto dessa modificação foi favorecer o agente ímprobo, sem tutelar o interesse público primário e ferindo a essência da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. Tal preceito normativo claramente opera odioso retrocesso no combate à corrupção.
Dando seguimento, importa mencionar alteração trazida quanto aos prazos da conclusão do inquérito civil e da propositura da ação. Este último o prazo é de 30 (trinta) dias para o legitimado propor ou arquivar a ação, após encerrado o prazo do inquérito civil.
Chama a atenção o prazo previsto para a conclusão do inquérito civil, que é de 365 dias, prorrogável por mais uma vez de igual período. Na prática, este prazo de conclusão comporta, em sua essência, finalidade oculta que visa a conferir impunidade para atos ilícitos herméticos. Diante da complexidade com que muitos atos de improbidade são praticados, aliado ao fato de que a produção probatória para esclarecimento das condutas dos agentes corruptos leva, por vezes, meses para cada diligência ser realizada (a exemplo das quebras de sigilo bancário e fiscal) um prazo tão curto inviabilizará a persecução desses agentes pelo ministério público.
Assim, com a manutenção de tal dispositivo, haverá manifesto retrocesso (remete-se ao disposto no tópico do art. 11), isso porque, ou os legitimados se arriscarão propondo ações com diligências incompletas ou arquivarão ações das quais poderiam vir a se evidenciar condutas graves de improbidade.
Na prática, os casos de improbidade levados à Justiça serão aqueles de menor complexidade e que, muitas vezes, trazem consigo pequenas lesões ao Patrimônio Público. Os grandes atos de corrupção, que desviam milhões de reais dos cofres públicos, permanecerão impunes.
Repise-se, por fim, nosso entendimento de que, em se tratando de norma de cunho civil, não deve ser operada a retroatividade dos dispositivos trazidos pela Lei nº 14.230/21, uma vez que, em se tratando de Direito Civil, não há se falar em retroação de normas mais benéficas ao agente ímprobo.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a Reforma da Lei de Improbidade, realizada pela Lei 14.230/2021, foi produzida com o claro intuito de impedir os avanços do Ministério Público na persecução de agentes corruptos que se valem dos seus cargos para desviar dinheiro público em clara ação parasitária contra o erário, hospedeiro de uma praga que, ao que tudo indica, se instalou permanentemente no Estado de Direito brasileiro.
É notório, também, que essa alteração da legislação não foi realizada da melhor forma possível, posto que, a pretexto de corrigir falhas do sistema e supostos excessos do Ministério Público, a legislação não respeitou os Tratados/Convenções Internacionais, sobretudo a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, dos quais o Brasil é parte signatária, além de ter, em diversos pontos, violado frontalmente a Constituição Federal.
Agora, cabe aos Tribunais e, principalmente, às Cortes Superiores, interpretar e analisar a compatibilidade desse diploma legal com normas de cunho superior, como Tratados Internacionais de Direitos Humanos e a Constituição Federal. Se caminharemos para uma rota de impunidade ou puniremos com severidade agentes que desviam verbas públicas da educação, saúde, dentre outras áreas sensíveis, para seu proveito pessoal, essa é uma questão que só o tempo poderá responder.
REFERÊNCIAS
AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de; TORRES, Marcio Roberto. A interpretação pro homine da convenção americana de direitos humanos: desafios e perspectivas. Prisma Jur., São Paulo, v. 16, n. 1, p. 151-180, 2017. DOI: 10.5585/PrismaJ.v16n1.7346. Disp. em: https://periodicos.uninove.br/prisma/article/view/7346. Último acesso em 04 fev. 2022.
CEIA, Eleonora Mesquita. A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 61, p. 113-152, jan.-fev.-mar. 2013. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista61/revista61_113.pdf. Último acesso em: 12 nov. 2020.
COIMBRA, Elisa Mara. Interação entre as ordens jurídicas interna e internacional: um estudo de caso da implementação das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 87. 2014.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 120.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016
NOCERA, Renata Pereira. Do Estudo da Convenção de Mérida e Seus Reflexos no Direito Brasileiro, publicado no XXVI Congresso Nacional do CONPEDI de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Disponível em: https://site.conpedi.org.br/publicacoes/27ixgmd9/2yqb85t4/S68JJxXTN1AX1M9d.pdf.
Organização dos Estados Americanos (OEA). Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7: Control De Convencionalidad. Disp. em: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf. Último acesso em 04 fev. 2022.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Nota
1 MACHADO, Costa. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Manole, 2004. p. 462.
Sobre os autores
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Graduado pela Universidade Federal da Paraíba. Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia da Paraíba – ESA/PB. Pós-graduado em Direito Constitucional pela Faculdade CERS. Mestrando em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Pernambuco.