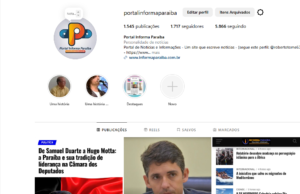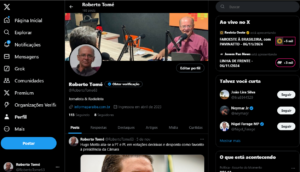Judiciário
Novos contornos da relação entre direito e moral
Quem possui as prerrogativas de resolver dilemas morais e com que critérios?

O desafio de distinguir direito e moral tem sido uma constante no debate jurídico ao longo do tempo. No Brasil, era comum que, nos estudos iniciais de introdução ao direito, fossem apresentadas as teorias dos círculos – concêntricos, secantes e independentes – como uma abordagem didática para explorar as diferentes concepções sobre a relação entre essas esferas[1].
Contudo, essa perspectiva, outrora amplamente adotada, parece ter perdido espaço nos ementários recentes, sugerindo uma mudança de foco no ensino jurídico para análises mais contextualizadas e alinhadas com as demandas contemporâneas.
Essa evolução no debate jurídico encontra reflexo em importantes contribuições. Em um artigo publicado em 2015 pelo professor de direito e ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso na Revista Brasileira de Políticas Públicas, intitulado “A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria”, o ministro traz reflexões que tocam aspectos sensíveis no debate contemporâneo sobre direito e moral.
Barroso identifica, em primeiro lugar, o advento de uma cultura jurídica pós-positivista, que busca superar a rígida separação imposta pelo positivismo entre direito e moral. Ele argumenta que, para construir soluções que não estão diretamente previstas na norma, o direito deve dialogar com a filosofia moral – em busca da justiça e de outros valores –, com a filosofia política – em busca de legitimidade democrática e da promoção do bem comum – e com as ciências sociais aplicadas, como economia e psicologia. Essa visão reforçaria uma ideia de um direito mais integrado às realidades sociais e éticas.
Em segundo lugar, Barroso destaca que o Judiciário, ao enfrentar determinadas questões “judicializáveis”, frequentemente se vê compelido a decidir sobre dilemas de natureza eminentemente moral. Ele ilustra essa tensão com casos hipotéticos que exemplificam os desafios enfrentados pelo direito contemporâneo:
- “Pode um casal surdo-mudo utilizar engenharia genética para gerar um filho surdo-mudo, de forma a compartilhar o mesmo universo existencial dos pais?
- Em uma situação de transplantes de fígado, quem deve receber o órgão disponível: o paciente que aguardava na fila ou aquele que, após um transplante malsucedido, reivindica o novo órgão?
- Um adepto da religião Testemunha de Jeová pode recusar uma transfusão de sangue indispensável para salvar sua vida, com base em suas convicções religiosas?
- É permitido que uma mulher engravide do marido falecido utilizando o sêmen armazenado em um banco de esperma?
- Uma pessoa nascida homem, mas que se identifica como uma mulher transexual, pode celebrar um casamento com outra mulher, configurando uma união homoafetiva?”[2]
Esses exemplos revelam a complexidade crescente das questões que chegam ao Judiciário, exigindo não apenas interpretação jurídica, mas também uma sensibilidade ética e social. A análise de Barroso evidencia que a distinção entre direito e moral, longe de ser uma questão resolvida, continua sendo uma arena de debate, onde teoria e prática se encontram para moldar os contornos do Direito.
Essas questões deveriam ser remetidas ao legislador, para que, no âmbito do processo democrático, se alcance uma posição majoritária que sirva de referência? Ou, ao contrário, devendo estar nas mãos do Judiciário, existe um critério mais ou menos objetivo que possa orientar os juízes na tomada de decisões sobre questões morais, evitando que toda decisão nesse campo seja inevitavelmente discricionária?
Seriam, então, a vontade, os sentimentos e as convicções pessoais dos ministros do STF os fatores determinantes das decisões nesses casos? Neste artigo, pretendo aprofundar esse debate, explorando a relação entre o Judiciário e o Legislativo na definição de balizas éticas em um Estado democrático de Direito, bem como os limites e possibilidades de critérios decisórios no campo das questões morais.
Legislativo ou Judiciário: quem detém palavra final sobre essas questões?
Em um artigo publicado neste JOTA em outubro de 2023, explorei um tema que ilumina as tensões entre Legislativo e Judiciário no que diz respeito às questões morais: o papel contramajoritário das cortes constitucionais[3].
Argumentei que, em um Estado democrático de Direito, as cortes desempenham uma função essencial na proteção de minorias, atuando como um contrapeso às possíveis tendências reacionárias das maiorias. Nesse contexto, vem ganhando força na literatura jurídica e nos debates sobre legitimidade democrática a ideia de que as decisões das cortes constitucionais, embora nem sempre populares, são indispensáveis para garantir direitos fundamentais e evitar retrocessos sociais.
Acrescento hoje, a essa reflexão, que é necessário distinguir entre dois tipos de questões morais que podem chegar ao Judiciário. Há, de um lado, aquelas que dizem respeito aos direitos fundamentais das minorias, como os relacionados à igualdade, dignidade e proteção contra discriminações.
Essas são questões que justificam o papel contramajoritário do Judiciário, pois demandam a tutela de direitos que podem ser negligenciados ou até mesmo violados por maiorias parlamentares. De outro lado, existem questões morais que envolvem apenas dilemas éticos, onde não há uma violação clara de direitos fundamentais, mas sim divergências sobre valores e escolhas coletivas. Nesses casos, o princípio majoritário deve prevalecer, especialmente quando o Parlamento alcança uma decisão clara, refletindo a vontade democrática.
A pergunta central que deve nortear qualquer análise moral envolvendo a palavra final da corte ou não é: “A decisão do Parlamento tende a abolir o conteúdo substancial de algum direito fundamental? Prejudica grupos minoritários? Possui caráter discriminatório ou tem potencial de marginalização?”.
Se a resposta for afirmativa, o STF não apenas pode, mas deve atuar para proteger os direitos fundamentais ameaçados. Por outro lado, se a decisão legislativa não apresenta esses riscos, deve prevalecer o respeito à vontade do Parlamento, em consonância com o princípio majoritário que sustenta a democracia representativa. Esse equilíbrio é essencial para garantir tanto a proteção de direitos quanto a legitimidade do processo legislativo.
Sustentar que o STF deve ter a palavra final em todas as questões morais – incluindo as de natureza puramente ética, nas quais o Parlamento já tomou uma decisão clara – equivale a adotar uma teoria implícita da incapacidade do legislador, desconsiderando o papel central do princípio majoritário em uma democracia representativa.
Nesses casos, negar a primazia do Legislativo seria negar a própria essência do processo democrático, em que as escolhas coletivas devem prevalecer, desde que dentro dos limites constitucionais.
Por ora, este articulista defende que o Supremo Tribunal Federal mantenha seu papel como guardião final dos direitos fundamentais das minorias, fato que realmente abrange a grande maioria dos dilemas morais que chegam à corte. A história demonstra que, quando questões de direitos são deixadas exclusivamente nas mãos das maiorias, o risco de retrocessos e violações é elevado.
Contudo, para questões que envolvem apenas dilemas éticos sem implicações diretas sobre direitos fundamentais de vulneráveis, o princípio majoritário deve ser observado, valorizando o papel do Parlamento na construção de consensos democráticos. Isso não apenas respeita a separação dos Poderes, mas também preserva a legitimidade das instituições e evita a sobrecarga do Judiciário em temas que são, em essência, de competência legislativa.
Critérios decisórios no campo das questões morais
Quando um dilema moral chega ao Judiciário, a necessidade de uma decisão coloca em evidência uma pergunta central: existem critérios decisórios que orientam as escolhas judiciais, determinando se uma decisão é correta ou incorreta?
Questões morais no âmbito judicial não envolvem apenas a aplicação de regras legais por meio do princípio da subsunção e dos métodos tradicionais de interpretação. Elas demandam um exercício argumentativo no campo ético, onde conflitos de valores entram em choque e exigem uma resposta que integre uma dimensão inescapável do Direito: sua essência moral.
Diferentemente das controvérsias puramente técnicas, os casos que envolvem dilemas morais frequentemente confrontam direitos fundamentais, princípios constitucionais e visões de mundo opostas.
Nessas situações, o juiz não pode se limitar a buscar a “intenção do legislador” ou a “letra da lei”. Ele é convocado a construir uma resposta que reflita o equilíbrio entre valores em conflito, uma tarefa que vai além da mera aplicação de normas e se fundamenta em uma argumentação que incorpora valores éticos e princípios de justiça.
Diversas teorias têm sido desenvolvidas para fornecer métodos de correção nesse tipo de decisão. Há 15 ou 20 anos, ganhavam força teóricos como Ronald Dworkin[4], com sua teoria da integridade do direito, e Robert Alexy[5], com o princípio da proporcionalidade, que sugeriam que os juízes ponderassem os direitos e interesses em conflito, avaliando qual decisão melhor atende aos valores constitucionais em jogo.
No entanto, embora essas teorias ofereçam diretrizes importantes, elas não parecem suficientes para resolver os desacordos morais razoáveis[6] – situações em que diferentes interpretações éticas são igualmente plausíveis e defensáveis.
Nesses campos de desacordos morais, os argumentos apresentados em juízo e as convicções pessoais dos julgadores ganham relevância significativa. Não há critério objetivo de decisão. Muito do resultado dessas decisões estará relacionado às matrizes ideológicas dos ministros que as proferem.
Sejam elas conservadoras ou progressistas, religiosas ou laicas, essas orientações influenciam como cada julgador percebe e equilibra os valores em conflito. Assim, o debate judicial nessas questões vai além do texto da lei, tornando-se uma arena em que visões de mundo se confrontam e moldam as escolhas morais que orientam o Direito.
Inicialmente, devemos lembrar, o Judiciário foi pensado como um poder composto por juízes neutros, responsáveis por decidir exclusivamente com base na lei, sem envolvimento direto com questões ideológicas ou políticas. Essa concepção reforçava a ideia de um Judiciário técnico, dedicado a garantir a aplicação imparcial das normas jurídicas, preservando a separação entre direito e política.
No entanto, à medida que a democracia amadurece e as decisões judiciais sobre questões morais se tornam cada vez mais frequentes, torna-se evidente que o Judiciário também é um ator político.
A escolha de ministros do STF com base em suas inclinações ideológicas – sejam elas conservadoras, progressistas ou influenciadas por crenças religiosas – evidencia que o tribunal não é apenas uma instância técnica. Ele é, também, um espaço onde vontades, interesses e valores se manifestam, influenciando ativamente os rumos do direito. Reconhecer essa dimensão política não enfraquece o Judiciário, mas reforça a necessidade de transparência e de um debate público robusto sobre seu papel na construção das escolhas morais de nossa sociedade.
[1]Reale, M. (1994).Teoria tridimensional do direito(5ª ed.). São Paulo: Saraiva.
[2]BARROSO, Luís Roberto.A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015 p. 23-50
[3]SILVA, Patrick Luiz Martins Freitas.Tensões democráticas: pautas morais fazem Congresso desafiar STF.JOTA, 2023. Disponível em:https://www.jota.info/artigos/tensoes-democraticas-pautas-morais-fazem-congresso-desafiar-stf.
[4]DWORKIN, Ronald.Levando os direitos a sério.2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
[5]ALEXY, Robert.Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.
[6]MARINONI, Luiz Guilherme. DESACORDOS MORAIS RAZOÁVEIS E CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. Direito.UnB – Revista de Direito da Universidade de Brasília, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 25–61, 2023. Disponível em:https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb/article/view/48238