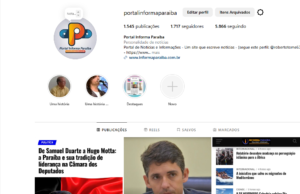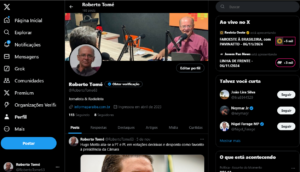Esporte
Cris Rozeira diz temer impacto da pandemia no futebol feminino: ‘Quem é que eles vão cortar primeiro?’
Em entrevista ao HuffPost, a maior artilheira dos Jogos Olímpicos reconhece visibilidade da Copa de 2019 e faz críticas ao ‘coitadismo’ direcionado à modalidade.

Cristiane Rozeira é nome de artilheira. De quem está na lista dos cinco maiores goleadores da história da seleção brasileira e cuja trajetória se confunde com a história recente do futebol feminino. Em 2020, aos 35 anos, ela entraria em campo pela última vez ao lado de Marta e Formiga. Mas a pandemia fez com que seus planos fossem adiados. A despedida será em 2021, na nova data das Olimpíadas de Tóquio, no Japão.
″É, eu prorroguei mais um tempo, né? Porque teoricamente agora eu já sairia da seleção. Eu achei muito importante o adiamento, que era o mínimo a se fazer”, disse, em entrevista por videoconferência ao HuffPost. “Talvez eu caia na real quando não me enxergar mais dentro da seleção; acho que vou sentir um baque, sabe? Não foi uma decisão fácil. Mas eu acho que há um ciclo importante de atletas que virão daqui para frente. A gente brinca sempre: ‘quem é que vai carregar o piano?’.”
Mas sair da seleção não é sinônimo de deixar a modalidade de lado. Entre os planos para o futuro, estão a possibilidade de trabalhar em áreas técnicas do esporte, seja em cargos específicos de gestão, ou ainda em campo, como treinadora. “Fora do futebol eu não vou ficar, pode ter certeza. Até porque a gente precisa estar. A gente consegue observar que quase não há ex-atletas trabalhando dentro da modalidade e o quanto é preciso que isso aconteça para dar continuidade a um trabalho.”PUBLICIDADE
Para a atleta, apesar de existir um avanço, a falta de mulheres trabalhando em áreas técnicas é sintoma da falta de investimento concreto na modalidade, que pode se agravar com a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Com a falta de verba, quem é que eles vão cortar primeiro? Eu acho que não tem uma atleta que não está pensando nisso nesse momento, tudo pode acontecer”, diz a jogadora.

Segundo estudo da Sports Value, os cem maiores clubes do futebol brasileiro podem perder, somados, R$ 2,5 bilhões e retroceder uma década em receita. Sem venda de ingressos, com a redução de sócio torcedores e da venda de produtos, além da perda de patrocínios, a receita dos times deverá ter uma perda de 37% em 2020, diz a pesquisa.
O Santos, clube pelo qual Cris Rozeira joga atualmente, arrecadou R$ 400 milhões em 2019 e, nesta temporada, este valor pode ser expressivamente menor. Segundo o estudo, cerca de R$ 262 milhões. Em valores percentuais, o clube pode fechar a receita com 34% a menos. Não há dados específicos sobre a modalidade feminina.
“Nós ainda somos dependentes do masculino. Se um time quebra, passa por uma situação diferente, acaba nos afetando diretamente”, explica Cris. “Eu falo como atleta, e é possível que eles cheguem para nós e falem ‘ah, eu não tenho como manter, porque infelizmente vocês ainda não geram renda’. E eles [clubes] veem isso como um problema. Existe esse medo”, diz. “Enquanto a gente continuar enxergando modalidade como coitadismo, sempre com ‘não dá dinheiro, é prejuízo’, as coisas não vão acontecer.”
Com a falta de verba, quem é que eles vão cortar primeiro? Eu acho que não tem uma atleta que não está pensando nisso nesse momento, tudo pode acontecer
Mesmo diante da incerteza, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino será retomado neste mês de agosto. O torneio foi suspenso em 15 de março, faltando três jogos para o encerramento da quinta rodada. Pelo Santos, a atleta jogará contra o Audax no próximo dia 26. “Imagina você manter todas as atletas o mínimo em forma possível nesse contexto. Vai ser bem difícil [o retorno]. Cada uma treinou com o que foi possível. Foi um desafio para o clube e igualmente para cada uma de nós.”
Além de parar de jogar, Cris diz que se viu em uma “montanha russa” na quarentena. Ao mesmo tempo em que sentiu que poderia descansar, recebeu notícias difíceis de lidar: a morte de um amigo próximo por covid-19, assim como a morte do ex-técnico Vadão, vítima de câncer e a internação de sua mãe. Teve ainda o processo de congelamento de óvulos.
“Esses cinco meses foram altos e baixos para mim. Aconteceu muita coisa, e no meio disso, fiquei três semanas parada depois do congelamento [de óvulos]”, conta. A atleta decidiu pelo procedimento em meio à pandemia, pensando em seu desejo de ser mãe no futuro e em evitar uma gravidez de risco.
‘Você tem que ficar provando que sabe jogar futebol’

Cris começou sua história com o futebol bem cedo, aos 14 anos. Em 2019, ela foi para a sua quinta Copa do Mundo como atacante. Natural de Osasco, em São Paulo, ela é considerada a maior artilheira de futebol em jogos olímpicos, com 14 gols. Ao longo da carreira, jogou na Alemanha, nos Estados Unidos, na França e na China, além de fazer história também em clubes brasileiros como Corinthians, São Paulo e atualmente, o Santos.
Ela tem um currículo condecorado de títulos, entre eles duas Libertadores, dois ouros no Pan Americano, duas pratas olímpicas e um vice-campeonato mundial. Mas ainda assim, o preconceito por ser mulher no futebol é intenso tanto no campo quanto nas redes sociais. “Nossa, até hoje a gente briga com os caras que aparecem. É muito doido. Eu falo que é uma luta constante e diária. Parece que você tem que ficar provando o tempo inteiro que sabe jogar futebol.”
De quatro em quatro anos, o mundo para quando a seleção masculina entra em campo na Copa do Mundo. Mas essa tradição não se aplicava, até agora, à Copa feminina. Em 2019, pela primeira vez, quatro canais nacionais obtiveram o direito de transmissão ao vivo da competição e a Globo transmitiu todos os jogos da seleção brasileira. Com isso, mais visibilidade foi entregue às atletas – mas ainda é preciso muito mais.
“Apareceram mais meninas interessadas em jogar futebol. Eu acho que foi muito bacana principalmente poder incentivar as meninas, as crianças. Em termos de campeonato, depois da Copa, foi meio que um ‘boom’, né? A gente conseguiu trazer para cá atletas que jogavam fora do Brasil, ajudou muito a fazer com que as pessoas se interessassem mais.”
Leia a entrevista completa:
HuffPost Brasil: Se não fosse a pandemia, no último dia 1º de agosto a olimpíada de Tóquio teria chegado ao fim – e esta seria a sua despedida da seleção feminina. Como foi adiar esta decisão pra você?
Cris Rozeira: É, eu prorroguei mais um tempo, né? Porque teoricamente agora eu já sairia da seleção. Eu achei muito importante o adiamento, que era o mínimo a se fazer. Em um evento como este, você concentra o maior número de atletas, de funcionários e de comissão técnica possível. E não tinha a menor condição de isso acontecer. Mas eu já vou bater o ano que vem com 36, né? Então se eu fosse jogar uma próxima [olimpíada]… Vamos combinar que eu não sou a Formiga, né? [risos]. Brincadeiras à parte, a genética da Formiga é absurda, é uma coisa fora da realidade. E eu não tenho essa genética abençoada que ela tem.
Então, eu tinha colocado isso [de parar de jogar em 2020] como uma meta. Talvez eu caia na real quando não me enxergar mais dentro da seleção, acho que vou sentir um baque, sabe? Não foi uma decisão fácil. Mas eu acho que há um ciclo importante de atletas que virão daqui para frente. Hoje a gente consegue ter as categorias de base movimentadas, coisa que a gente não tinha antes, e torce para isso, porque nem sempre vamos estar aqui. A gente brinca sempre: “quem é que vai carregar o piano?”.
E você já tem planos?
Eu, de vez em quando, pego umas dicas com a Pelê [Aline Pelegrinno, ex-atleta e diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol]. Estou terminando um curso de gestão esportiva, e quero fazer mais cursos, tirar licença de treinadora e ter opções na minha mão. Fora do futebol eu não vou ficar, pode ter certeza. Vou estar dentro da modalidade. Até porque a gente precisa estar. A gente consegue observar que quase não há ex-atletas trabalhando dentro da modalidade e o quanto é preciso dar oportunidade para essas atletas. O pós-carreira é isso: ninguém quer fazer um curso e ficar em casa. Então, acho que isso é um passo também; é algo importante para todas as meninas que resolveram jogar de futebol: a possibilidade de elas continuarem na modalidade mesmo que longe das quatro linhas.

Atualmente, a holandesa Pia Sundhage está treinando a seleção feminina. Para você, faz diferença ter uma treinadora mulher?
Eu acho que é importante porque você se vê ali, né. Você vê que aquele é um outro espaço para trabalhar também. Eu acho que quando a Emily [primeira mulher a comandar a seleção feminina, demitida com menos de um ano no cargo, em 2017] saiu, todo mundo ficou receosa tipo “putz, não tem lugar pra gente fora do campo”. A Pia tem uma leitura de trabalho de campo absurda, ela traz uma visão que nós não tínhamos. Com todo respeito aos outros profissionais, o último treinador que tinha uma visão tão ampla assim foi o Renê [Simões]. Nós chegamos à final de uma Olimpíada e levamos a medalha de prata. Eu sou muito feliz de ter a Pia hoje, de ter uma mulher nos representando, mas eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com quem é competente, seja homem ou seja mulher. Mas, claro, tendo uma mulher, a gente se sente – tem um lado mais “tranquilo” de lidar, tem uma visão que é nossa, tem uma sensibilidade maior. A Pia foi atleta, ela vem mudando muitas coisas, principalmente a nossa visão de campo. É muito doido trabalhar com ela. Ela tem uma leitura tática muito boa.
Como você avalia o futebol feminino hoje no Brasil? É muito diferente de quando você começou?
Eu acho que hoje tem uma coisa que não tinha na minha época, que são as categorias de base. Mas óbvio que não são todos os estados que têm condições de ter uma categoria de base. Ainda falta investimento na base no Brasil todo, não adianta você ter base em um só lugar. É preciso que a menina que quer jogar não “queime” etapas, que foi o que aconteceu comigo, com a Marta. Nós queimamos etapas. Com 16 anos, eu já estava jogando na categoria adulta. Eu não tive a sub-17, sub-20. Para as meninas de hoje, isso é muito importante, pensando em evolução técnica, física, de ter uma orientação profissional, de entender a importância de jogar e de possivelmente, no futuro, vir a representar o país. Elas precisam saber que é possível.
A Copa da França, no ano passado, foi positiva para esse cenário?
Apareceram mais meninas interessadas em querer jogar futebol. Eu acho que foi muito bacana principalmente poder incentivar as meninas, as crianças. Em termos de campeonato, depois da Copa, foi meio que um “boom”, né? A gente conseguiu trazer meninas que jogavam fora para o Brasil, ajudou muito para fazer com que as pessoas se interessassem mais e desejassem ir para o estádio. O fato de ter sido transmitida em canal aberto atingiu um público maior, e a gente conseguiu fazer com que as pessoas conhecessem além de Marta, Cristiane e Formiga. Mas agora a gente tem uma preocupação do que pode acontecer depois da pandemia. Nós ainda somos dependentes do masculino. Se um time quebra, passa por uma situação diferente, acaba nos afetando diretamente.
O que poderia acontecer?
Os times podem ser afetados no sentido de estrutura. A gente tem um certo receio deles virarem e falarem “olha, não teremos o [campeonato ou time] feminino porque estamos quebrados”. Com a falta de verba, quem é que eles vão cortar primeiro? Eu acho que não tem uma atleta que não está pensando nisso, tudo pode acontecer. Eu falo como atleta, e é possível que eles cheguem para nós e falem “ah, eu não tenho como manter, porque infelizmente vocês ainda não geram renda”. E eles [clubes] veem isso como um problema. Existe esse medo. A gente sabe que tem os times “de camisa” e que tem os pequenos – que estão em uma situação até mais complicada do que as equipes femininas em si.

Mesmo depois da Copa de 2019 e de toda a visibilidade, a ideia de que “futebol feminino não dá dinheiro” ainda se perpetua. Como é possível mudar isso?
Enquanto a gente continuar enxergando modalidade como coitadismo, sempre com “não dá dinheiro, é prejuízo”, as coisas não vão acontecer. Talvez leve um tempo para que apareçam os investidores e as pessoas que acreditam, e que olhem para a modalidade como algo rentável. Talvez eu pare de jogar e veja só depois de um tempo as coisas andarem. Porque não é possível que a modalidade não deslanche, não é possível que ela não seja vista como investimento, que é o que acontece lá fora. Na Espanha, por exemplo, eles pararam de enxergar a modalidade com coitadismo. “Ai, coitadinhas, vamos dar espaço para as meninas?”, “Ai, coitadinhas, vamos transmitir os jogos?”. Não. Eles passaram a olhar como investimento, coisa que não acontece no Brasil. Jogos do Real Madrid e do Barcelona chegaram a lotar estádios. A gente vai ficar encostada até quando? Hoje você não sabe até quando vai conseguir ter as jogadoras aqui no país, se os clubes vão manter as bases salariais…
Ainda sobre investimento e visibilidade: também na Copa, a Marta chamou atenção para a falta de patrocínio das atletas. Além dos clubes, qual é o papel das marcas, de empresas para mudar a mentalidade do “coitadismo”?
Eu entrei na Adidas [marca que patrocina a atleta] e saí perguntando tudo. Eu sempre tive curiosidade de saber por que as atletas não eram patrocinadas, por que não eram cedidos pelo menos os materiais a elas. Uma chuteira custa R$ 800. Nem toda menina tem condição. Eu meio que saí chutando a porta, de curiosa mesmo. E ainda falei “caramba, vocês cedem o material para as pessoas só postarem no instagram”. E é isso, às vezes a influencer vai usar o item uma vez só. Nós vamos usar todos os dias um tênis de corrida, uma chuteira, uma caneleira. E eu não estou falando só da minha modalidade: porque as marcas que são de material esportivo não cedem material para atletas? É difícil de entender. Eles precisam entender que eles são essenciais nessa ajuda. Eles podem facilitar a vida de um atleta que ganha menos do que R$ 1.000 por mês e vai precisar separar um dinheiro para ter uma chuteira. Porque uma chuteira boa é cara. Você pode comprar uma mais barata, mas ela não vai durar. A gente treina e joga. Imagina você usar a mesma chuteira para treinar e jogar? Não tem condição. E ainda comprar uma de trava. Você precisa pelo menos ter três chuteiras e olhe lá. A hora que eles começarem a entender que têm um papel importante na vida de um atleta, seja de alta performance ou de base, vai haver uma transformação muito grande.

Em maio, as jogadoras norte-americanas perderam o processo que exigia salários equivalentes ao do time masculino. Você acompanhou a decisão? Existe algo que esteja sendo feito no Brasil sobre isso?
Eu acompanhei pouco. Não que nós não tenhamos os argumentos para fazer o que elas fizeram, nós temos muito mais. [risos] Na seleção, hoje a gente tem as mesmas premiações do masculino em termos de jogos, de diárias, isso melhorou. Eu acho que a gente precisa fazer as pessoas entenderem que o futebol feminino é rentável. Mas talvez na cabeça dessas pessoas dos clubes ainda exista o pensamento de que a gente não traz um retorno financeiro para o caixa. Na cabeça deles, nós somos muito mais prejuízo do que retorno. Um jogador que ele vende, sei lá, ele pega R$ 10, 40, 50 milhões. E no feminino, a gente não tem estrutura para fazer girar um caixa financeiro. Então, talvez, eles pensem que não é possível pagar R$ 100 mil, 200 mil para uma atleta que não traz um retorno. Infelizmente, é assim.
Durante sua carreira você precisou “bater de frente” com o machismo?
Nossa. Até hoje a gente briga com os caras que aparecem. É muito doido. Eu falo que é uma luta constante e diária. Parece que você tem que ficar provando o tempo inteiro que sabe jogar futebol. O atleta vive de vários momentos, né? Tem seus altos e baixos, o momento bom, ruim, de lesão… Só que o torcedor não quer saber. Principalmente aquele que não se informa. Para mim, assim, quando você tem propriedade, vai nos meus treinos, nos meus jogos, se você está interessado em saber o que acontece com o futebol feminino, eu te dou razão para as “cornetadas”. Agora, quando é um cara que nunca viu um treino seu, não entende as condições do meu trabalho, nunca te apoiou, nunca fez nada, é complicado. Toda vez a gente tem que ficar meio que se posicionando e, muitas vezes, ter paciência de explicar os motivos, a estrutura. Já falei várias vezes: “venha assistir, venha acompanhar como é no dia a dia”. Eu sempre acabo discutindo com alguém. Tem hora que é bem complicado. E às vezes eu me isolo disso tudo. É muito tóxico, e é importante se blindar.
E você sempre quis jogar futebol?
Sempre. Eu comecei com 7 anos, mas, com 5, anos minha mãe falava que eu já chutava bola. É muito doido, né? Eu não consigo explicar. É só uma coisa que aconteceu. Que eu amo fazer. As crianças têm muita variação, né? Eu não, meu negócio era só futebol. Não tinha outra coisa que era apresentada que me tirava o interesse do futebol. Ele sempre esteve presente.
Como você começou a jogar e treinar profissionalmente?
Eu sempre joguei bola na rua. Mas, aos 12, eu entrei na escolinha, e só tinha molecada. E aí eu fui inscrita no campeonato dos meninos. E o treinador do outro time olhou, se incomodou com a minha presença, mas permitiu que eu jogasse. Naquela época era muito pior o preconceito. E foi engraçado: eu joguei bem, nós ganhamos e ele meio que se revoltou e começou a brigar com o árbitro, com o mesário: “menina não pode, desclassifica o time”. Tudo isso porque o time dele perdeu, né? Ele estava todo pomposo, mas na hora que viu que perdeu o jogo, usou isso de argumento para dizer que queria cancelar o campeonato. Por conta disso, eles tiveram que me tirar da inscrição. E aí foi quando o treinador viu que precisava montar um time feminino, porque os meninos também não aceitavam. E naquela época eu tinha 12, mas eu jogava com menina de 16, 17. Porque não existia a categoria de base que tem hoje. Foi toda essa doideira aí. Eu brinco com as meninas que eu aprendi na marra.
Você tinha alguém como inspiração?
Meu irmão, que jogava bola, eu sempre ia atrás dele. Eu tive o meu tio que era um meia-esquerda super habilidoso. O meu pai é péssimo jogando bola, eu inclusive devo ter puxado ao meu tio [risos]. Mas eu não tinha noção que tinha campeonato feminino. Eu comecei a ter quando eu entrei no Juventus, aos 14 anos. Ali eu vi que tinham meninas da minha idade jogando. E foi quando eu comecei a assistir aos jogos das meninas – e vi a Sisi, a Pretinha, a Roseli jogando. E eu falava “caramba, elas estão ali”. Foi quando eu visualizei que um dia seria bacana conseguir jogar como elas.
Como é hoje ter o título de maior artilheira do futebol em Jogos Olímpicos?
Pra mim, assim… Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar dentro do quadro de atletas com mais gols dentro de uma seleção brasileira. Não tem nem como imaginar o quanto isso é importante, o quanto isso é grande. Pensar que eu deixei meu nome da história da seleção, na história do futebol feminino mundial… Eu nunca imaginei que isso aconteceria.
Fonte: huffpostbrasil