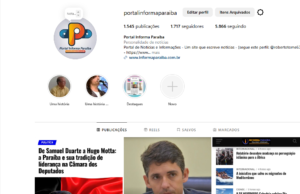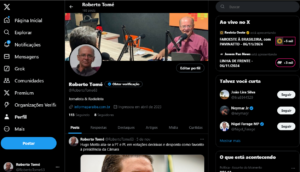Internacional
Trump vs. Biden e o Brasil
Se eleito, Biden terá que fazer grande esforço para reconquistar parte do papel preponderante dos EUA no mundo

O panorama pré-eleitoral nos Estados Unidos mostra uma polarização cada vez mais acentuada entre o atual ocupante da Casa Branca, Donald Trump, e seu adversário Joe Biden, centrada em questões internas, principalmente antagonismos raciais e desigualdades econômicas e sociais na sociedade norte-americana. As questões relativas à condução da política exterior, no entanto terão também relevância na definição do resultado das eleições de novembro.
Durante seu mandato, Trump executou um programa de política externa baseado no reforço da segurança nacional por meio da expansão do poderio bélico, inclusive nas áreas nuclear e de novas tecnologias; luta contra o terrorismo; fortalecimento das fronteiras e dos controles de imigração; e adoção do princípio de “os Estados Unidos em primeiro lugar” (America first).
No campo comercial, retirou-se da “Parceria Trans-Pacífico” e do acordo de livre comércio com a Coreia do Sul e negociou novo acordo com o México e Canadá (USMCA) em substituição ao NAFTA, (Tratado de Livre Comércio da América do Norte), concluído no governo de Bill Clinton.
Impediu a nomeação de integrantes dos orgãos de resolução de disputas e de apelação da Organização Mundial do Comércio. Acusou a China de práticas desleais de comércio e instituiu gravames sobre as importações daquele país e restrições às atividades internacionais de firmas chinesas, desencadeando verdadeira guerra comercial.
Além disso, retirou a representação norte-americana no Conselho de Direitos Humanos da ONU e mais tarde suspendeu a participação de seu país na Organização Mundial de Saúde. Mais recentemente, impôs sanções contra altos funcionários do Tribunal Penal Internacional. Denunciou o Acordo do Clima alcançado em Paris em 2016 e levou parcialmente adiante a promessa de campanha de construir um muro ao longo da fronteira com o México, adotando medidas altamente restritivas no campo da política imigratória. No Oriente Médio, prosseguiu com sucesso a guerra contra o Estado Islâmico e procurou reduzir o número de combatentes norte-americanos naquela região e no Afeganistão.
Trump pleiteou e obteve vastos recursos orçamentários para novos armamentos. Reforçou a aliança com Israel e retirou-se do Plano Conjunto de Ação Abrangente (JCPOA) que visava conter o desenvolvimento nuclear do Irã. Procurou, sem sucesso, engajar a Coreia do Norte em um acordo para “desnuclearização” da península coreana e tratou com o presidente russo Vladimir Putin de temas como a guerra civil na Síria, controle de armamentos na Europa e a situação na Ucrânia.
Retirou-se do tratado bilateral com a Rússia que impedia o estacionamento na Europa de mísseis nucleares de alcance médio (INF), propondo em seu lugar um arranjo trilateral com a Rússia e a China para limitar os arsenais nucleares dos três países. Pequim não acolheu a proposta Recentemente, a Rússia e os EUA iniciaram conversações para prorrogar o tratado NEW START, de 2010, que estabeleceu limites para as forças nucleares de ambos e que deverá expirar em fevereiro de 2021.
A maioria das iniciativas de política exterior do governo Trump, porém, resultou de fato no enfraquecimento da liderança global exercida pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial, além de produzir fricções e desentendimentos com seus aliados na Europa e no Oriente.
As instituições multilaterais perderam boa parte de sua capacidade de ação devido ao desinteresse norte-americano e cortes em suas contribuições financeiras. As decisões da Assembleia Geral das Nações Unidas cada vez mais se afastaram dos objetivos e prioridades dos Estados Unidos.
No Conselho de Segurança acentuaram-se as divergências entre Washington, de um lado, e Pequim e Moscou, de outro, enquanto os dois membros permanentes europeus ocidentais – Reino Unido e França – nem sempre apoiaram decisivamente os propósitos norte-americanos.
No debate interno em alguns membros da OTAN ressurgem dúvidas sobre a questão do compartilhamento de forças nucleares. Por sua vez, a União Europeia vem procurando perseguir seus próprios objetivos de política externa e as vozes que advogam, na Europa e no Japão, a aquisição de armamento nuclear próprio se viram reforçadas.
Ao mesmo tempo, cresce a influência da China no Oriente e em áreas do mundo em desenvolvimento, ocupando espaços que se ampliaram pela retração norte-americana. A Coreia do Norte vem aumentando seu arsenal atômico e o alcance de seus mísseis, enquanto o Irã parece haver resistido com eficiência, pelo menos até o momento, às sanções e ao isolamento internacional, à espera de uma possível mudança na postura dos Estados Unidos no próximo governo.
Em um artigo recente na revista Foreign Affairs o adversário de Trump definiu as linhas mestras da política externa que pretende adotar no caso de vitória em novembro. Nesse artigo, o candidato do Partido Democrata atribui ao atual presidente o declínio da credibilidade e influência dos Estados Unidos desde o fim do governo Obama e o acusa de haver depreciado e prejudicado, e até mesmo abandonado, aliados e parceiros tradicionais. Para Biden, Trump teria cometido o pecado mais grave de haver-se desviado dos valores democráticos que asseguram a pujança da nação e a união do povo dos Estados Unidos.
O candidato democrata propõe eliminar barreiras protecionistas no comércio com outros países e em lugar de guerras tarifárias defende a celebração de acordos comerciais que contenham cláusulas de proteção a direitos trabalhistas e ao meio-ambiente. Sugere ainda organizar uma Reunião de Cúpula pela Democracia com o objetivo de “renovar o espírito e o objetivo compartilhado das nações do mundo livre” buscando compromissos políticos de combate à corrupção, defesa contra o autoritarismo e promoção dos direitos humanos.
No artigo, Biden define a mudança do clima como a “ameaça existencial” que o mundo enfrenta na atualidade e conclama os Estados Unidos a liderar o mundo a fim de conjurá-la. No que toca às questões de segurança internacional, reconhece a importância de cooperação nos temas em que os interesses norte-americanos e os de seus dois maiores rivais convergem: não proliferação de armas nucleares, preservação e reforço da estabilidade estratégica.
Não há menção, no artigo, ao objetivo de eliminação global do armamento nuclear e sim apenas a reiteração do compromisso de reduzir o papel dessas armas nas doutrinas militares. O candidato não parece preocupar-se com as consequências catastróficas de uma conflagração nuclear por acidente ou desígnio.
As breves menções à América Latina contidas no texto de Biden se resumem a poucos países da América Central no contexto das questões imigratórias e à Venezuela e Cuba no tocante a liberdades democráticas. Não há referências ao Brasil.
Nosso continente, geograficamente periférico é também geopoliticamente periférico e provavelmente continuará a ocupar posição marginal no desenho geral da política externa dos Estados Unidos, que tradicionalmente enxergam suas relações com a América Latina através da lente de suas preocupações com as grandes potências rivais.
Os investimentos chineses nesta parte do mundo e o estreitamento dos laços da ditadura venezuelana com a Rússia e o Irã têm preocupado os governos em Washington mais do que as desigualdades sociais e as fragilidades das instituições latino-americanas.
As indicações contidas artigo assinado pelo candidato democrata fornecem aos observadores internacionais elementos de análise que apontam para uma possível reversão da tendência relativamente recente dos Estados Unidos a um menor envolvimento nos assuntos mundiais e nas instituições multilaterais.
Ao mesmo tempo, denotam um reconhecimento tácito das limitações impostas pelas realidades do mundo multipolar contemporâneo. Os objetivos de política exterior, afirma Biden, não poderão ser alcançados sem a liderança norte-americana em colaboração com outros países democráticos.
Se eleito, Biden terá que fazer grande esforço para reconquistar ao menos parte do papel preponderante dos Estados Unidos no mundo a partir do reconhecimento de que certos interesses globais se sobrepõem a considerações de ordem paroquial. A cooperação entre nações soberanas nos moldes sugeridos dispensa alinhamentos automáticos e busca, ao contrário, identificar convergências e reduzir divergências em benefício de todos.
As ameaças à permanência da civilização humana que se agravaram nas últimas décadas – riscos de conflagração nuclear entre potências super-armadas, aumento das desigualdades de renda e de oportunidades, deterioração do meio-ambiente e eclosão de pandemias – somente podem ser enfrentadas com êxito em um nível de atuação que transcende os Estados nacionais e exige cooperação em escala global.
Um novo governo norte-americano disposto a utilizar seu considerável poder para exercer liderança esclarecida poderá propor respostas realistas comuns àquelas ameaças, sem deixar-se contaminar por distorções ideológicas. Ao mesmo tempo, daria novo alento às instâncias multilaterais, especialmente as Nações Unidas.
O Brasil possui uma antiga tradição diplomática que no passado recente se traduzia na capacidade de interlocução com todos os membros da comunidade internacional, o que lhe permitiu atuar de maneira construtiva na definição e adoção de acordos regionais e globais sem perder de vista seus interesses específicos.
Em um mundo menos propenso a excessos autoritários e a visões nacionalistas estreitas, esse lastro positivo ainda poderá ajudar o país a exercer papel fundamental de relevo no necessário esforço de resgate de um multilateralismo renovado e produtivo, oferecendo nova oportunidade para nossa diplomacia, caso as perspectivas oferecidas abertas por uma visão cooperativa pós-pandemia venham a concretizar-se.