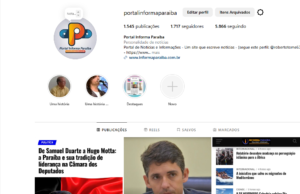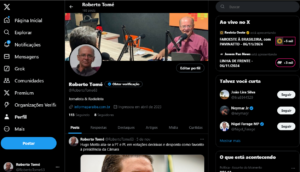Internacional
O perigoso trabalho dos arqueólogos em zonas de conflitos
Arqueólogo sírio Khaled al-Asaad foi morto por extremistas por se recusar a revelar a localização de artefatos históricos. Sua morte destaca os perigos que os pesquisadores enfrentam em áreas de conflito

A mídia estatal síria noticiou recentemente que autoridades locais teriam encontrado os restos mortais do arqueólogo Khaled al-Asaad, decapitado por militantes do grupo terrorista autodenominado “Estado Islâmico” (EI) em 2015.
Morto aos 82 anos de idade, Asaad fora por mais de 40 anos diretor do departamento de antiguidades de Palmira, onde vivia e realizava atividades de pesquisa. Depois que o EI ocupou a cidade histórica, ele teria dito: “Sou de Palmira e vou ficar aqui, mesmo que me matem.”
Conhecida como “um oásis no deserto sírio”, Palmira foi mencionada pela primeira vez nos séculos 1º e 2º antes de Cristo, nos arquivos de Mari, um antigo assentamento semita no leste da Síria. Em setembro de 2015, militantes do EI destruíram grande parte desse Patrimônio Mundial da Unesco por ser “anti-islâmico”. Khaled al-Asaad foi morto por se recusar a revelar a localização de objetos históricos que ajudara a desenterrar.
Artefatos culturais e símbolos históricos contribuem para a identidade coletiva de um grupo ou uma nação, tornando a prática da arqueologia um assunto delicado – e por vezes perigoso para os que se encarregam de trazer esses objetos à luz e preservá-los, como mostra o assassinato de Asaad.
Assim como em Palmira, é comum monumentos históricos simbólicos serem alvo de grupos que querem reafirmar a própria dominância ou desafiar o status quo. Por exemplo, em 2001 o regime Talibã do Afeganistão detonou duas estátuas monumentais do Buda em Bamiyan, tachando-as de idolatria. Em 1992, extremistas de direita hindus demoliram a mesquita Babri Masjid, em Ayodhya, Índia, por sua vez construída no século 16 sobre um antigo templo hindu.
Onde arqueologia é questão de Estado
Mesmo em épocas pacíficas, os governos controlam estritamente quem pode ter acesso a sítios arqueológicos e quais destes têm prioridade na pesquisa. “As agências governamentais dos países em que os arqueólogos trabalham têm que conceder permissão para realizar trabalho de campo – ou a recusam”, explica à DW Susan Pollock, docente de arqueologia da Universidade Livre de Berlim.
O departamento arqueológico do país em questão, enquanto repartição governamental, “pode decidir que certos projetos propostos não corresponde a suas prioridades, e portanto exigir uma modificação – ou se recusar a conceder uma licença”. Já era assim na Síria antes mesmo de começar o levante contra o presidente Bashar al Assad, em março de 2011, que resultou em amplo e violento conflito.
“Eu diria que o principal desafio antes da guerra era a acessibilidade aos sítios e aos materiais arqueológicos. O governo mantinha um controle rigoroso sobre as permissões para escavações”, conta a arqueóloga síria Lubna Omar, atualmente residente nos Estados Unidos.
Ela tentou trabalhar em projetos nacionais, mas teve permissão constantemente negada. Depois que irrompeu a guerra entre as forças de Assad e grupos armados, estudar as ruínas antigas tornou-se praticamente impossível e perigoso, explica.
Pollock, que trabalhou como arqueóloga no Iraque quando este estava em guerra com o Irã, na década de 1980, relata que arqueólogos atuantes em zonas de conflito costumam enfrentar problemas logísticos relacionados à segurança própria e de sua equipe: “Sendo de fora, nós raramente temos conhecimento suficiente dos mecanismos internos dos conflitos, ou acesso a informações de último minuto.”
Após ocupação, Khaled al-Asaad declarou: “Sou de Palmira e vou ficar aqui, mesmo que me matem.”
“Minha pesquisa está morta”
Inseparável de seu trabalho, Khaled al-Asaad seguiu atuando em Palmira mesmo depois que o EI sitiou a cidade que, segundo Lubna Omar, “era a identidade dele”. Apesar de esse comprometimento ser inquestionável, para Pollock a morte do octogenário levanta uma questão ética: “É válido realizar pesquisa arqueológica no contexto de um conflito violento? Caso sim, onde estão os limites?”
Na Síria, o futuro da arqueologia é incerto. Muitos profissionais suspenderam suas atividades, outros tiveram que fugir do país, como Omar. Quem permanece, tem que enfrentar o dia a dia da guerra, além de perspectivas cada vez mais parcas de se manter financeiramente.
Omar conta que teve que concluir seu doutorado no Japão, já que isso não era possível em sua terra natal. Ela finalmente obteve permissão para examinar artefatos sírios, porém só os trazidos décadas atrás para Tübingen, Alemanha. Assim como para muitos de seus compatriotas, a guerra civil síria lhe deixou poucas opções.
O dilema de Omar é compreensível: praticar arqueologia significa estar in loco – como fez Asaad até a morte. Mas para ela não houve sequer essa opção: “Quando a guerra acabar, não vou poder empregar minhas aptidões nem meus conhecimentos. Deixei a Síria em 2012, e não retornei desde então.”
“Desde que me mudei para os EUA em 2016, estou impedida de viajar. Primeiro, por causa da proibição de viagens de Donald Trump, e agora porque não tenho um passaporte válido. Em suma: estou presa, e minha pesquisa está lamentavelmente morta.”