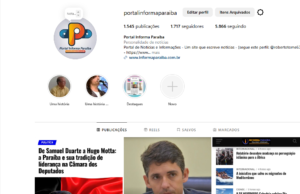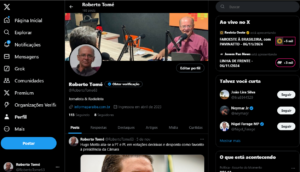Internacional
Guerra no Iraque: uma mentira e suas longas consequências
Em março de 2003, os EUA de Bush iniciavam a eliminação do regime de Saddam Hussein, alegando posse de armas de destruição em massa e cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro. Hoje, Sul Global cobra essas falsidades

A matança continua duas décadas depois: somente em fevereiro de 2023, pelo menos 52 civis morreram no Iraque em tiroteios, bombardeios e outros ataques. A violência é um eco da guerra no Iraque, lançada pelos Estados Unidos na noite de 19 para 20 de março de 2003.
O país árabe pouco pôde opor à campanha de “choque e pavor” (shock and awe) realizada pela “coalizão dos dispostos” (coalition of the willing), que incluía o Reino Unido, Austrália e Polônia, sob liderança americana. No espaço de três semanas, Saddam Hussein e sua brutal ditadura tinham sumido do mapa. Outras três semanas mais tarde, e do convés do porta-aviões USS Abraham Lincoln, um triunfante presidente George W. Bush anunciava “missão cumprida”.
A essa altura, segundo dados do Pentágono, os EUA e seus aliados haviam lançado 29.166 bombas e mísseis sobre o país inimigo. Grande parte da infraestrutura local estava em ruínas. A ONG britânica Iraq Body Count calcula em 7 mil o número de civis mortos.
Assim se concluíam as operações militares de maior porte, mas ao mesmo tempo iniciava-se uma longa e fatal fase de ocupação, que ao todo custou entre 200 mil a 500 mil vidas (dependendo da estimativa). Em 2006, a revista de medicina The Lancet computava 650 mil “mortes adicionais”.
As tropas americanas se retiraram em 2011 – para logo retornarem, a fim de ajudar combater o assim chamado “Estado Islâmico”, um brutal grupo fundamentalista nascido dos destroços do regime baathista de Hussein. Segundo o Ministério alemão da Defesa, 120 soldados da Bundeswehr estão atualmente estacionados no Iraque.

Ganhar a guerra, perder a paz
O aventurismo militar foi “uma das últimas expressões da crença hubrística do Ocidente de que fosse capaz de reconfigurar um país e uma ordem regional, para se adequar às suas preferências”, condena Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri, na sigla em inglês).
Transformar o Iraque numa democracia de estilo ocidental provou ser mais difícil do que os tomadores de decisões dos EUA queriam inicialmente crer. A colcha de retalhos iraquiana de complexidades étnicas e religiosas sobrepujou uma administração ocupadora insuficientemente preparada.
Um atentado com carro-bomba ao complexo das Nações Unidas em Bagdá, em 19 de agosto de 2003, que fez 22 vítimas, deu a partida a uma insurgência implacável e fatal.
“Se a missão era libertar o Iraque do terror, reerguê-lo e fortalecer a segurança em todos os níveis, ela foi um fracasso total”, resumiu em 2018 o ex-secretário-geral da ONU Javier Solana, num comentário para a plataforma Project Syndicate.
Violações do direito internacional, torturas
Essa guerra foi “um uso de força contrário ao direito internacional e uma violação da Carta das Nações Unidas”, avalia Kai Ambos, especialista legal da Universidade Georg-August em Göttingen, no centro da Alemanha.
“A invasão do Iraque não teve base numa resolução da UNO. Assim, só sobra a autodefesa como justificativa possível para o uso de força.” No entanto não houve caso de autodefesa, arremata Ambos. Kofi Annan, secretário-geral da ONU na época, partilhava essa opinião, tendo classificado a guerra no Iraque como ilegal nos termos do direito internacional.
A Alemanha se recusou a participar, porém, apoiou a ofensiva, concedendo direitos de sobrevoo e proteção às bases militares americanas em seu território, além de contribuir com informações secretas e verbas. Assim, segundo Ambos, Berlim “instigou e foi cúmplice de num ato contrário às leis internacionais”.
Na época da invasão, em artigo para o jornal FAZ, o destacado filósofo alemão Jürgen Habermas afirmou que uma consequência da decisão de Washington de infringir as leis internacionais, indo adiante com a guerra, fora “dar superpoderes e um exemplo desastroso” a ser seguido.
A reputação global dos Estados Unidos caiu ainda mais com a revelação de crimes de guerra e tortura. O mais tardar no começo de 2004, todo o mundo conhecia o nome Abu Ghraib, a infame prisão do regime de Saddam, que não mudou muito quando os militares dos EUA a assumiram: fotos vazadas revelaram cruéis torturas físicas e psicológicas contra os detentos.
Além disso, houve incidentes de violência americana contra civis. Em 2005, integrantes da Marinha mataram 24 cidadãos desarmados em Haditha, no centro-oeste iraquiano. Dois anos mais tarde, em Bagdá, funcionários da firma de segurança Blackwater abriram fogo contra uma multidão, matando 17. Num vídeo vazado pela Wikileaks, um helicóptero militar atirava contra civis, matando 12, entre os quais um jornalista da agência de notícias Reuters.

Agressão militar sob razões falsas
As duas razões alegadas pelos americanos para justificar a guerra eram mentiras: não se encontrou nenhuma arma de destruição em massa após a invasão; e o Iraque não participou dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em solo americano, Saddam sequer tinha conexões com Osama bin Laden e os terroristas da Al Qaeda. As informações secretas em que tais alegações se basearam, ou eram falsas, ou exageradas.
“O caso é que eles tinham decidido o que queriam fazer, e aí tentaram encontrar razões para tal”, explica Stephen Walt, professor da Kennedy School de Harvard. “Não é que a inteligência estivesse informando a decisão: eles a manipularan ou ‘esculpiram’ para justificar o que já tinham decidido fazer.”
O ápice dessa campanha de influência pública foi em 5 de fevereiro de 2003, quando o secretário de Estado Colin Powell foi à Organização das Nações Unidas apresentar “provas” dos programas iraquianos de armas de destruição em massa, incluindo tentativas de adquirir armamento nuclear.
Após deixar o governo Bush, Powell foi um dos poucos altos funcionários americanos a lamentarem seu papel no caminho do país até a guerra, classificando o discurso na ONU como “uma mancha” em seu currículo.

Ordem baseada em regras ou “faça o que eu digo, não o que eu faço”
No mínimo desde a Lei de Liberação do Iraque, de 1998, a mudança de regime no país árabe constava da agenda política americana. A presidência Bush já estava considerando cuidar do regime de Saddam Hussein ao assumir, meses antes dos atentados de 11 de Setembro.
“Saddam representava um desafio aos Estados Unidos, simplesmente por ter sobrevivido depois da guerra do Golfo Pérsico. Os EUA contavam que seria derrubado, mas ele se manteve”, explica Stephen Wertheim, membro associado da fundação Carnegie Endowment for International Peace.
“Ele era um obstáculo ao exercício da hegemonia americana no Oriente Médio”, prossegue, e os atentados de setembro de 2001 foram a chance que deu ao governo Bush “ampla disponibilidade para canalizar a cólera pública e configurar a reação”.
Essa era coincidiu com o ponto máximo do poder americano pós-Guerra Fria, fato que, para o professor Walt, de Harvard, é incompatível com a “ordem baseada em regras” que os EUA normalmente promulgam: “É um conjunto de regras em cuja escrita tivemos enorme participação e que, claro, nos sentimos livres para violar, quando não nos convém segui-las.”
Para Kai Ambos, essa inconsistência é uma razão por que, duas décadas depois, países como o Brasil, a África do Sul e a Índia se distanciam do apelo americano por apoio à Ucrânia contra a invasão russa, e se recusam a participar de sanções a Moscou: “O ‘Sul Global’ está bem ciente desse aparente ‘dois pesos e duas medidas’. E a conta pelos atos passados está vindo agora”, conclui o jurista alemão.